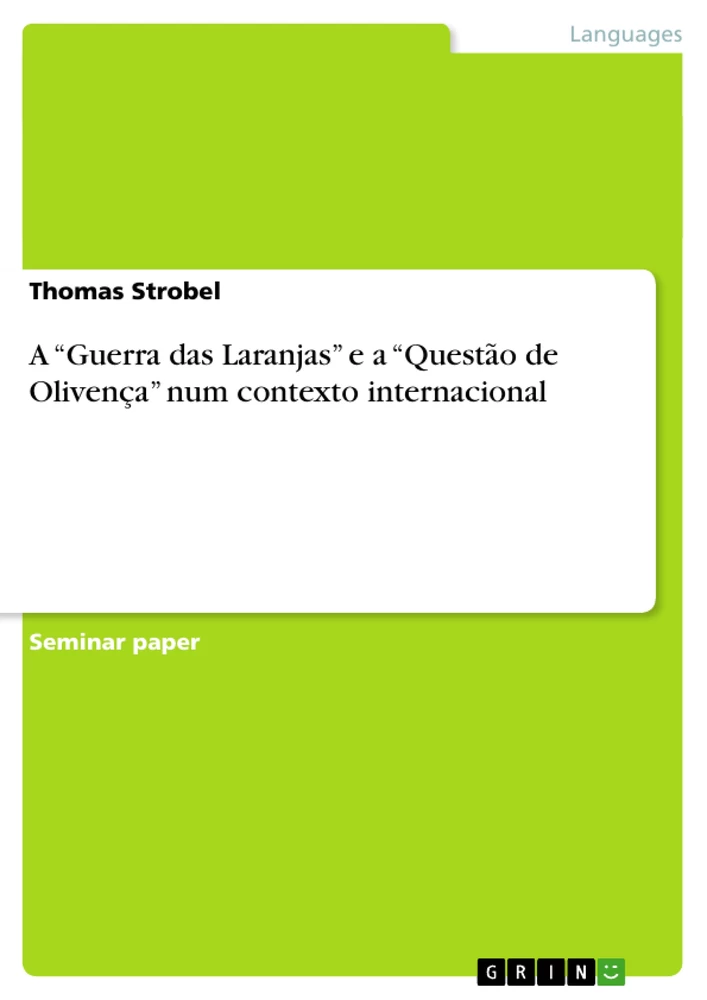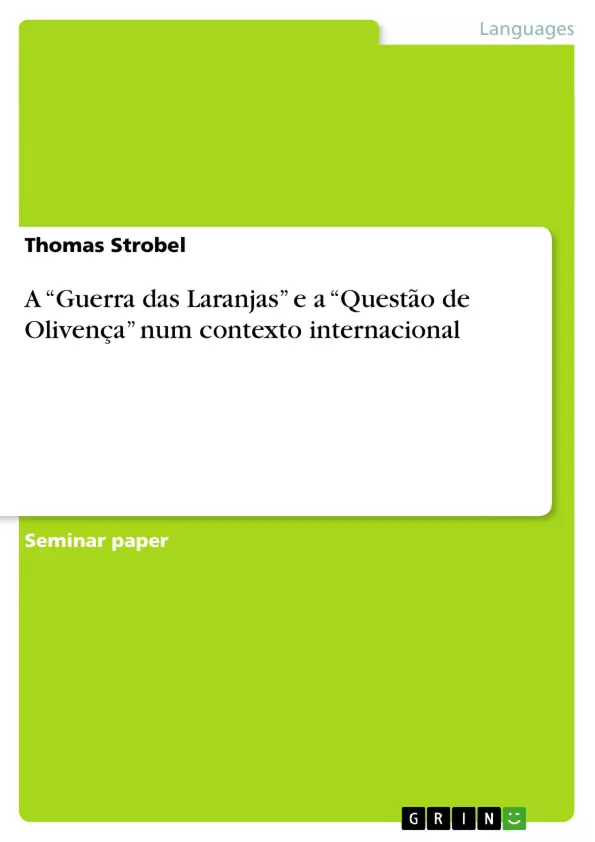A caricatura inglesa, que faz alusão à assinatura do Tratado de Badajoz por Portugal, depois da chamada “Guerra das Laranjas” de 1801, acentua a impotência e fraqueza do governo português face ao fracasso da sua tão desejada neutralidade num clima internacional tenso, com todas as consequências fatais desta inclusão forçada. A Espanha é representada aqui pelo “Príncipe da Paz”, D. Manuel Godoy2. Por consequência da guerra entre os dois vizinhos ibéricos com palco privilegiado no Alto Alentejo, que se explica só no contexto internacional e global do conflito entre a França napoleónica expansionista e a Inglaterra, potência suprema nos mares, a cidade portuguesa de Olivença com as suas terras foi incorporada “perpetuamente” pela Espanha que tinha desejado há muito o rio Guadiana como fronteira natural.
Neste trabalho trata-se de examinar as causas e circunstâncias da perda de Olivença – “uma cidade portuguesa «de jure», administrativamente espanhola «de facto»”3 – no conflito das duas mais fortes potências da época, a França e a Inglaterra. Como é que a guerra entre Portugal e Espanha está incluída num sistema de interesses estratégicos anglo-franceses, no qual Olivença constitui uma “moeda de troca entre a França e a Inglaterra”4? Até que ponto a luta no Alentejo pode ser vista como primeira etapa das sucessivas incursões bélicas francesas, como “prólogo”5 das invasões napoleónicas dos anos 1807-1810/11?
Outra razão para uma perspectiva histórica globalizante indispensável sob a questão de Olivença e o Tratado de Badajoz, é fundada na projecção americana da controvérsia europeia, ou seja no velho problema dos limites no Brasil e na criação seguinte do Uruguai como nova nação.
1 Carlos Eduardo da Cruz Luna, Nos caminhos de Olivença, Estremoz 32000, p. 107.
2 Manuel Domingo Francisco Godoy y Álvarez de Faria Ríos Sánchez Zarzosa (nasceu em 12 de Maio de 1767 em Alcuera, Badajoz, e morreu em 7 de Outubro de 1851 em Paris): trata-se de uma figura muito contraditória na história de Espanha; depois de uma ascensão meteórica, é nomeado “Príncipe da Paz” pelo rei Carlos IV em virtude da Paz de Basileia, 1795.
3 Luna, p. 11.
4 António Pedro Vicente, “Olivença. Início da expansão napoleónica na península”, in: História, Ano XXIII (III Série), 36: “150 Anos da Regeneração”, Lisboa 2001, p. 50.
5 Ibidem.
Inhaltsverzeichnis (Sumário)
- Introdução
- A Península Ibérica na época da Revolução Francesa
- O período de 1795-1801: tensão permanente e neutralidade frágil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivo e Temas Principais)
Este trabalho visa examinar as causas e circunstâncias da perda de Olivença durante o conflito entre a França e a Inglaterra, duas das mais poderosas potências da época. O estudo explora como a guerra entre Portugal e Espanha se insere num sistema de interesses estratégicos anglo-franceses, no qual Olivença se torna uma "moeda de troca". Além disso, analisa a extensão em que a luta no Alentejo pode ser considerada como um "prólogo" para as invasões napoleónicas.
- A perda de Olivença no contexto da disputa entre França e Inglaterra.
- O papel de Olivença como "moeda de troca" entre as potências europeias.
- A guerra no Alentejo como precursora das invasões napoleónicas.
- A influência do contexto internacional na política ibérica.
- A fragilidade da neutralidade portuguesa durante o período.
Zusammenfassung der Kapitel (Sumário dos Capítulos)
- A introdução contextualiza a perda de Olivença no Tratado de Badajoz (1801) e destaca o contexto internacional da "Guerra das Laranjas".
- O capítulo 2 analisa a situação da Península Ibérica durante a Revolução Francesa, destacando os tratados e alianças que levaram Portugal à participação na guerra contra a França ao lado da Espanha e da Inglaterra.
- O capítulo 3 explora o período de 1795-1801, caracterizado por uma tensão permanente e uma neutralidade frágil de Portugal, influenciada pelas relações com a França, Espanha e Inglaterra.
Schlüsselwörter (Palavras-chave)
As principais palavras-chave deste trabalho incluem: "Guerra das Laranjas", "Tratado de Badajoz", "Olivença", "França", "Inglaterra", "Espanha", "Portugal", "neutralidade", "interesses estratégicos", "invasões napoleónicas", "relações internacionais", "política ibérica".
Preguntas frecuentes
¿Qué fue la "Guerra de las Naranjas"?
Fue un breve conflicto en 1801 entre Portugal y España, influenciado por las tensiones entre la Francia napoleónica y Gran Bretaña, que resultó en la pérdida de la ciudad de Olivenza para Portugal.
¿Por qué Olivenza se considera una "moneda de cambio"?
Debido a su posición estratégica, la ciudad fue utilizada en las negociaciones diplomáticas entre las grandes potencias de la época, Francia e Inglaterra, para asegurar sus propios intereses estratégicos.
¿Cuál es la situación actual de Olivenza según el texto?
El texto la describe como una ciudad portuguesa "de jure" (por derecho), pero administrativamente española "de facto" (de hecho), debido a las consecuencias del Tratado de Badajoz.
¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la Península Ibérica?
La revolución rompió los equilibrios de poder, forzando a España y Portugal a elegir bandos entre Francia e Inglaterra, lo que llevó a invasiones y cambios territoriales significativos.
¿Quién fue Manuel Godoy?
Conocido como el "Príncipe de la Paz", fue una figura clave en la política española que representó los intereses de España durante la Guerra de las Naranjas y la firma del Tratado de Badajoz.
- Quote paper
- Thomas Strobel (Author), 2002, A “Guerra das Laranjas” e a “Questão de Olivença” num contexto internacional, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114592