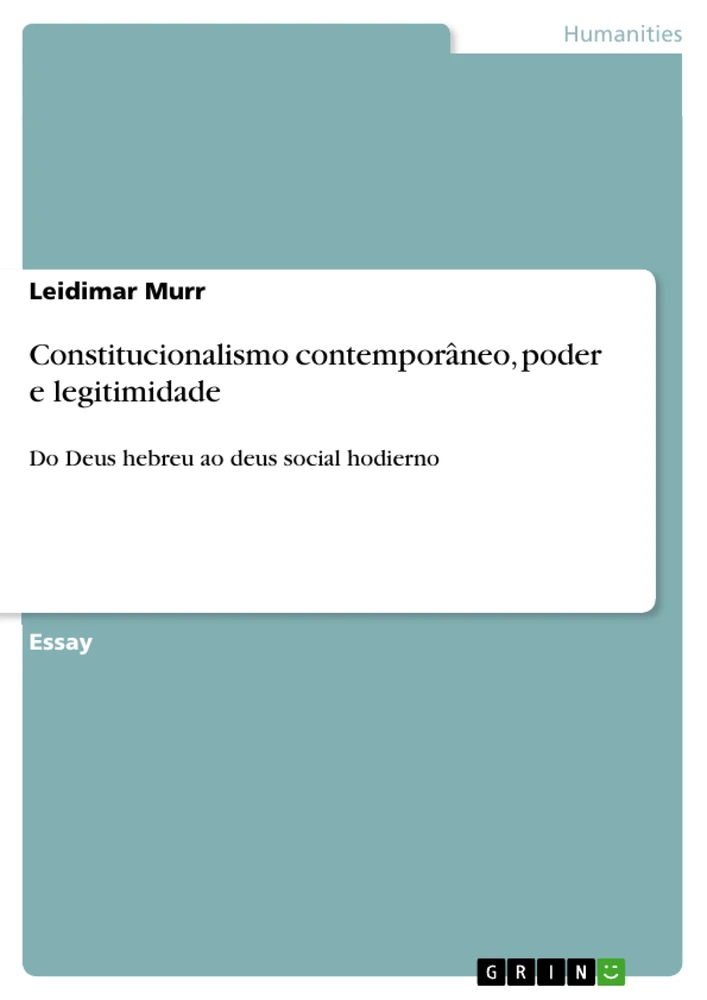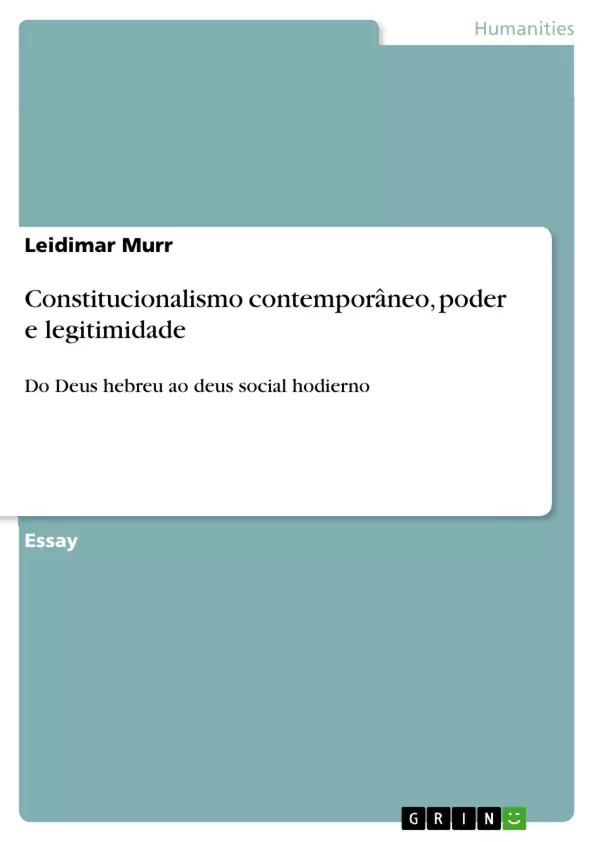Constituição contemporânea, poder e legitimidade: do Deus hebreu ao deus social hodierno é um ensaio filosófico-jurídico que convida o leitor a uma jornada pela genealogia do poder ocidental. A obra analisa criticamente a transição das formas teológico-políticas de legitimação — simbolizadas no Deus hebreu e na soberania moderna — até a constituição contemporânea, marcada por um novo paradigma simbólico: o “deus social hodierno”.
Com base em autores clássicos como Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel, Kelsen e Schmitt, e em diálogo com pensadores contemporâneos como Weber, Habermas, Foucault e Bauman, a autora reconstrói os fundamentos da normatividade moderna e problematiza suas promessas de racionalidade, liberdade e autonomia.
A obra apresenta uma abordagem crítica e interdisciplinar, que integra filosofia do direito, teoria constitucional, ética e ciência política. A leitura propõe não apenas a compreensão histórica das estruturas jurídicas, mas também um convite à reflexão sobre os limites do poder normativo, a crise de legitimidade e os desafios morais de um tempo em que o sagrado se desloca da transcendência para os sistemas sociais.
Escrito com rigor acadêmico, mas em linguagem clara e envolvente, este ensaio é destinado a juristas, filósofos, cientistas sociais e a todos os leitores que se interessam por uma análise profunda das formas de dominação, das promessas da modernidade e das estruturas invisíveis que sustentam o poder hoje.
SUMÁRIO
Introdução
1. Fundamentos teológico-políticos da autoridade
2. Reforma e ruptura com a autoridade religiosa unificada
2.1. Lutero: ruptura teológica e ressignificação da autoridade
2.2. Calvino: disciplina, contrato e a pré-história do constitucionalismo
3. A emergência do Estado moderno e do poder secular
3.1. Maquiavel: o poder como técnica
3.2. Jean Bodin: soberania e unidade do poder
3.3. Hobbes: o Leviatã e o medo como fundamento
3.4. Locke: direito natural e limitação do poder
3.5. Rousseau: vontade geral e o pacto social
4. A racionalização do poder e a crítica iluminista: a legitimidade moderna
4.1. Montesquieu: a separação dos poderes como princípio racional de limitação
4.2. Kant: autonomia, razão prática e o direito como expressão da liberdade
4.3. Hegel: o Estado como realização da liberdade objetiva
5. Teoria jurídica do constitucionalismo moderno
5.1. Hans Kelsen: normatividade, hierarquia e unidade do ordenamento
5.2. Carl Schmitt: decisão, exceção e soberania
6. Crítica contemporânea à racionalidade normativa e à legitimação moderna
6.1. Max Weber: racionalidade instrumental e desencantamento do mundo
6.2. Jürgen Habermas: ação comunicativa e legitimação democrática
6.3. Michel Foucault: poder disciplinar e biopolítica
7. A Constituição contemporânea: o deus social hodierno
Conclusão
Referências bibliográficas
Resumo
Este artigo examina a genealogia do poder moderno sob a ótica do constitucionalismo, traçando sua evolução desde os fundamentos filosóficos da soberania e do contrato social até sua reconfiguração contemporânea. Partindo das teorias de Maquiavel, Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant e Hegel, o estudo percorre a transição da autoridade tradicional para a normatividade racional do Estado moderno, explorando as tensões entre legalidade e decisão nas obras de Kelsen e Schmitt. Em seguida, analisa-se a crítica contemporânea à razão normativa por meio das perspectivas de Weber, Habermas e Foucault, culminando na proposta conceitual do “deus social hodierno”: uma metáfora para a nova arquitetura do poder constitucional, marcada pela judicialização, pela pluralidade identitária, pela biopolítica e pela sacralização imanente dos direitos. A Constituição contemporânea é apresentada como espaço simbólico, discursivo e performativo, onde se disputam legitimidades e se produzem sentidos jurídicos e políticos em tempos de crise e fluidez institucional.
Palavras-chave: Constitucionalismo; Poder; Legitimidade; deus social hodierno; Filosofia do direito; Crítica contemporânea.
Abstract (English)
This article examines the genealogy of modern power through the lens of constitutionalism, tracing its evolution from the philosophical foundations of sovereignty and the social contract to its contemporary reconfiguration. Drawing on the theories of Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, and Hegel, the study explores the transition from traditional authority to the rational normativity of the modern state, as well as the tensions between legality and decision in the works of Kelsen and Schmitt. It then addresses contemporary critiques of normative reason through the perspectives of Weber, Habermas, and Foucault, culminating in the conceptual proposition of the “hodiernal social god”: a metaphor for the new architecture of constitutional power, marked by judicialization, identity pluralism, biopolitics, and the immanent sacralization of rights. The contemporary Constitution is presented as a symbolic, discursive, and performative space where legitimacy is contested and juridical and political meanings are produced in times of crisis and institutional fluidity.
Keywords: Constitutionalism; Power; Legitimacy; Hodiernal social god; Philosophy of law; Contemporary critique.
Resumen
Este artículo examina la genealogía del poder moderno desde la perspectiva del constitucionalismo, trazando su evolución desde los fundamentos filosóficos de la soberanía y del contrato social hasta su reconfiguración contemporánea. A partir de las teorías de Maquiavelo, Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant y Hegel, se analiza la transición de la autoridad tradicional hacia la normatividad racional del Estado moderno, abordando las tensiones entre legalidad y decisión en las obras de Kelsen y Schmitt. Luego, se aborda la crítica contemporánea a la razón normativa a través de las perspectivas de Weber, Habermas y Foucault, culminando con la propuesta conceptual del “dios social hodierno”: una metáfora de la nueva arquitectura del poder constitucional, caracterizada por la judicialización, el pluralismo identitario, la biopolítica y la sacralización inmanente de los derechos. La Constitución contemporánea se presenta como un espacio simbólico, discursivo y performativo donde se disputan legitimidades y se producen sentidos jurídicos y políticos en tiempos de crisis y fluidez institucional.
Palabras clave: Constitucionalismo; Poder; Legitimidad; Dios social hodierno; Filosofía del derecho; Crítica contemporánea.
PALAVRAS INICIAIS
O presente texto nasce do entrecruzamento entre o pensamento filosófico e a experiência institucional. Muito além de uma leitura doutrinária sobre o constitucionalismo, esta reflexão propõe-se a compreender o percurso histórico e conceitual que sustenta a legitimidade do poder moderno e sua contínua mutação diante da fragilidade normativa contemporânea.
Influenciada por uma formação ética e jurídica interdisciplinar, pela convivência acadêmica com pensadores alemães, e pela prática docente no campo da Bioética, a autora propõe um itinerário que atravessa as grandes categorias da teoria política — da soberania ao contrato, da razão iluminista ao desencantamento weberiano — para, enfim, interrogar o lugar atual da Constituição diante de novas formas de transcendência social.
Este ensaio é, portanto, ao mesmo tempo um gesto crítico e uma busca teórica: um convite à escuta filosófica do direito enquanto espelho, linguagem e limite do poder.
Constitucionalismo contemporâneo, poder e legitimidade Do Deus hebreu ao deus social hodierno
Leidimar Pereira Murr1
INTRODUÇÃO
A legitimidade é o verdadeiro fundamento de qualquer ordem jurídica e política para se sustentar sem lançar mão do poder da coerção, quando o poder passa a ser exercido com base na violência institucionalizada – polícia, exército, repressão. Um Estado sustentado com base na força bruta é um Estado instável e incompatível com consensos amplamente difundidos nas sociedades ocidentais contemporâneas. Ao optar pela via democrática com a promulgação a Carta Magna de 1988, o Brasil passou a integrar formalmente o conjunto das nações democráticas ocidentais, não apenas ao adotar princípios fundamentais do Estado de Direito, mas também ao ratificar compromissos internacionais que reafirmam, internamente, perante a sociedade, e externamente, perante a comunidade internacional, um posicionamento inequívoco em relação a direitos constitucionalmente assegurados e valores considerados inegociáveis no marco da ordem democrática.
A fragilização da legitimidade jurídica e política confere ao Estado a aparência de autoridade sustentada pela força, pela inércia ou pela manipulação, não pela justiça. A história nos ensina que o autoritarismo e a fragilidade institucional conduzem ao colapso. A crise de legitimidade vivida no Brasil não se resume à instabilidade político-institucional: ela reflete uma ruptura mais profunda entre a sociedade civil e as estruturas de poder.
Essa crise, em âmbito nacional, aliada às tensões presentes no cenário internacional, deu ensejo ao presente estudo, que se propõe, então, a refletir sobre os conceitos de legitimidade e de poder, desde o Deus hebreu até alcançar o deus social hodierno, na conformação daquilo que hoje se compreende sob o termo “constitucionalismo”.
O estudo adota uma abordagem teórico-conceitual, baseada na revisão crítica de categorias como legitimidade, poder e constitucionalismo, analisadas sob uma perspectiva histórico-filosófica. Parte da leitura de fontes clássicas e contemporâneas, articulando reflexões da teologia política, da filosofia do direito e da teoria do Estado, com o intuito de compreender os deslocamentos simbólicos e institucionais que marcam a trajetória do Deus hebreu ao deus social hodierno. O método é predominantemente ensaístico e interpretativo, focado na problematização das bases simbólicas que sustentam a autoridade nas sociedades contemporâneas.
Desde os primórdios da humanidade a vida social, das formas primevas de agrupamento humano até os dias atuais, passa por constantes transformações marcando épocas que para fins do presente estudo cabe evidenciar três momentos: (1) período compreendido da antiguidade tardia à idade média, caracterizado por fundamentos teológico-políticos da autoridade; (2) Período da Reforma Protestante, caracterizado pela ruptura com a autoridade religiosa unificada, que inaugura a secularização do poder político; (3) Período da emergência do Estado moderno, que consolida a secularização do poder.
O ser humano é um “ser social”. Isso significa que vive em agrupamentos, e, para tal, a comunicação é a liga – o elo entre os indivíduos –, sendo que a linguagem precede a palavra, a palavra oral precede a escrita, e ambas, traduzem o pensamento. O pensamento, por sua vez, contém memórias, desejos e vontades que se projetam para o porvir. Esse encadeamento concatenado entre pensamento, palavra e escrita, no que se refere à organização social e política dos grupos – que mais tarde evoluíram para cidades, nações e Estados –, sempre adotou prescrições com vistas a estabelecer condutas desejáveis ou reprováveis. Ou seja, desde sempre houve a necessidade de controle do outro, de regulamentar a convivência e, distinguindo entre interesse individual e coletivo, dar corpo a um conjunto de normas vinculantes.
Nesse sentido, desde o conjunto mais antigo de leis escritas de que se tem conhecimento – agrupado sob a denominação de Código de Hamurabi2 – até as Constituições atualmente vigentes, a motivação permanece a mesma: regulamentar a convivência entre indivíduos e grupos cujos interesses, ora convergentes, ora conflitantes, demandam mediação normativa. Embora a complexidade dos agrupamentos sociais tenha aumentado e o corpo normativo tenha assumido formas mais sofisticadas e elaboradas, a motivação não sofreu alteração. Tampouco mudam os três elementos essenciais que sustentam tais construções: autoridade, poder e legitimidade.
O poder é a força coercitiva; a autoridade, a capacidade de exercê-la; e a legitimidade, o reconhecimento, pelo corpo social, de quem detém essa autoridade. O pensamento, a partir do momento que, além da memória, do desejo e da vontade projetada no porvir, se ocupa de controlar o outro em sua ação ou conduta, adentra a esfera do juízo de valor, do julgamento.
É assim que a comunicação passa a ser o veículo para a empreitada: o propósito de regulamentar a conduta do outro. A palavra e/ou o texto escrito, por sua vez, tornam-se os instrumentos para regular a ação e a conduta no agregado social. A palavra, oral ou escrita, seja no Código de Hamurabi, na Bíblia, ou na norma positivada na Constituição, expressa não apenas o conteúdo do pensamento, mas também o ethos da comunidade, aquilo que se evidencia no processo de convencimento. E é esse “processo de convencimento” do corpo social, do agrupamento social, que revela um elemento invisível –, mas que, nas democracias, substitui a força coercitiva bruta do Estado, marcando aquilo que pensadores denominaram “terceiro ausente” ou “a terceira autoridade”. Esse terceiro, seja o Estado ou outra autoridade legitimada pelo corpo social, parece ser o elemento indispensável para fazer oposição à coerção bruta do Estado.
Enquanto nos Estados autoritários esse processo é claramente visível, nas sociedades democráticas de organização complexa ele adota várias formas, nem sempre perceptíveis. Nas sociedades contemporâneas do ocidente democrático, um olhar retrospectivo permite perceber o deslocamento da autoridade, do poder conferido e da legitimidade da autoridade, ensejando a revisão ora proposta. Parte-se da afirmação de que o Deus hebreu e seus mediadores, assim como posteriormente o Estado laico e seus representantes, entregam hoje o Poder nas mãos de um deus social e amorfo.
Parece que a tendência do homem de defender, em primeiro lugar, os próprios interesses faz com que o indivíduo só se mostre receptivo ao outro – a alteridade – quando consegue convencê-lo de que o mandamento que traz provém de uma autoridade externa a ambos. Daí decorre a necessidade da figura de um Terceiro como fundamento da autoridade, seja ele representado pela lei mosaica, pela Bíblia ou pela Constituição. Norberto Bobbio sustenta que um conflito somente pode ser resolvido pela força ou de maneira pacífica; para que se alcance esta última, é imprescindível a presença de um Terceiro, a quem ambas as partes se submetam por confiança mútua3.
Propomos aqui a hipótese de que esse Terceiro esteve presente, sob diferentes formas, em todos os instrumentos de autoridade ao longo do processo de complexificação das organizações sociais. A autoridade, outrora atribuída diretamente a Deus, foi sendo transferida a documentos fundacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou as Constituições positivadas nas diversas nações do Globo – desde que essas se orientem por um corpo normativo capaz de acolher a humanidade em sua imperfeição.
O Deus punitivo e o Estado sancionador cedem lugar a instituições cuja imposição se pauta pelo perdão e pelo apoio institucional. O Leviatã outrora temido parece hoje um gato domesticado – ainda que não necessariamente mais justo. Se assim o fosse, problemas estruturais como a fome e a injustiça não avançariam justamente nas sociedades mais influenciadas pelo ideal democrático-progressista ocidental.
Diversamente do Terceiro ausente de Bobbio – cuja ausência tornaria o conflito insolúvel por meios pacíficos –, adota-se aqui a figura simbólica da “Terceira autoridade”, que sempre esteve presente como símbolo da superação da força bruta pela via do Direito, da razão ou da autoridade legitimada pelo corpo social. Essa Terceira autoridade, força simbólica, é também a força motriz da vontade coletiva, concentrada no presente e projetada no futuro, cujas memórias conformam o ethos da comunidade, legitimando – ou retirando a legitimidade de – toda autoridade constituída em cada momento histórico.
As sociedades contemporâneas, marcadas pela convivência de contrários, parecem ter deslocado a simbologia da autoridade – seja da autoridade religiosa, seja as várias formas de autoridade estatal até então constituídas – para documentos dotados de força normativa e simbólica: as “Bulas”. As autoridades legitimadas para representar os Estados tornam-se meros intérpretes do poder simbólico da autoridade normativa, que ganha corpo na forma de Constituições, Tratados internacionais e outros instrumentos produtores de efeitos jurídicos e sociais.
Nenhuma autoridade logrou, até o presente, trazer paz duradoura à humanidade hoje irmanada – e, paradoxalmente, dividida – pela globalização. Duas guerras e a eminência de uma terceira desnuda a solidão do homem com seu vernáculo, sua língua nativa. O Deus hebreu, outrora descido dos céus e encarnado nas figuras dos intermediadores da palavra – as autoridades religiosas –, assim como as autoridades estatais, vê sua legitimação questionada e paulatinamente substituída por protocolos, tratados e acordos. A força vinculante, a motivação do soberano, já não advém do mandamento nem dos valores que outrora fundamentaram os contratos sociais, mas dos próprios contratos e tratados que ganharam corpo e poder por si mesmos. Curiosamente, tais escritos adquirem, à semelhança das antigas Bulas que simbolizavam a mediação entre o divino e o terreno, tamanha autoridade que fazem retomar a antiga indagação: o que legitima uma norma? Sua origem divina? O consenso racional? A tradição? Não. Hoje, o que legitima a norma é a própria norma.
A norma pagã – fundada no mundo empírico que a todos alberga – orienta-se por experimentos de uma sociologia desprovida de densidade crítica, atenta apenas ao que se passa no aqui e agora.
Este ensaio está estruturado em sete partes. O primeiro sintetiza os fundamentos teológico-políticos da autoridade, desde a Antiguidade Tardia até a Idade Média. A segunda examina a Reforma Protestante, marcada pela ruptura com a autoridade religiosa unificada no século XVI. A terceira parte aborda a emergência do Estado moderno e a consolidação do poder secular. A quarta dedica-se à racionalização do poder e à crítica iluminista. A quinta analisa a teoria jurídica do constitucionalismo moderno. A sexta parte discute as críticas contemporâneas à racionalidade normativa e à legitimação moderna. Por fim, a sétima parte apresenta, sob a figura do “deus social hodierno”, a emergência de uma nova arquitetura do poder nas sociedades contemporâneas.
A Constituição brasileira de 1988, em seu preâmbulo, professa
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Conforme aponta BOULOS (2009, p. 9), o preâmbulo, embora desprovido de força normativa, evidencia:
“(...) a busca pela limitação do poder, aliada ao esforço de se estabelecer uma justificativa espiritual, moral, sociológica, política, filosófica e jurídica para o exercício da autoridade.”
Para situar melhor o estudo, cabe apresentar algumas distinções conceituais acerca do constitucionalismo, termo recente para uma inquietação ancestral. Em seu sentido amplo, todo Estado possui uma Constituição, entendida como norma fundamental que confere poderes ao soberano, independentemente de ser escrita ou consuetudinária. Em sentido restrito, o constitucionalismo refere-se à técnica jurídica voltada à tutela das liberdades, adotada pela maioria dos Estados desde o final do século XVIII, como forma de pôr fim ao absolutismo, isto é, de limitar o poder do soberano.
Os tópicos que se seguem traçam, ainda que de modo suscinto e delimitado aos objetivos do presente ensaio, a evolução do constitucionalismo enquanto ideia de outorga de poder por um povo a uma autoridade legitimada.
No constitucionalismo primitivo – ou arcaico –, homens sob o domínio de uma autoridade divina conferiam poder a representantes dos deuses, dentro de uma estrutura de crença politeísta. As normas que orientavam a vida em comunidade eram, segundo os antropólogos, de caráter místico e irracional, como ilustram os relatos sobre os ordálios4.
A ideia de constitucionalismo, portanto, precede a existência das constituições escritas. Assim como “a escrita modifica o Direito, mas não o cria”, a história do constitucionalismo é marcada por transformações profundas ao longo do processo civilizatório, mas não nasce com a modernidade.
Conforme observa LOWENSTEIN (1986, p. 154 apud BULOS, 2009, p. 10), ao estruturar o antigo Estado hebreu, estabelecendo limites ao poder político por meio da imposição da Bíblia, os hebreus são considerados o primeiro povo a praticar o constitucionalismo. Aos profetas, dotados de legitimidade popular, cabia “fiscalizar e punir os atos dos governantes que ultrapassassem os limites bíblicos”, constituindo “a primeira experiência constitucionalista de que se tem registro”.
O constitucionalismo dos povos primitivos se caracterizava por estar alicerçado nos padrões consuetudinários de conduta, nos quais cada comunidade se pautava por usos e costumes próprios, havendo uma convicção generalizada quanto à obrigatoriedade da regra estabelecida. Da mesma fonte em que buscavam explicações para os fenômenos naturais – as crenças religiosas –, extraíam também a legitimidade para a escolha dos líderes, tidos como representantes dos deuses na terra. Sob o constante temor dos poderes sobrenaturais, os mecanismos de constrangimento social garantiam a observância dos padrões de conduta, e os precedentes se originavam da experiência dos chefes ou dos anciãos do clã.
Os tópicos a seguir apresentam os períodos decisivos da formação do constitucionalismo – uma construção jurídica e histórica, mas, sobretudo, um fenômeno político-social. Nascido da resistência ao absolutismo, à arbitrariedade do poder e à opressão, o constitucionalismo expressa a vontade popular de submeter o poder soberano a normas previamente pactuadas. Trata-se de um movimento que emerge da luta por liberdade, direitos e limitação do poder estatal, cujos marcos históricos serão explorados nas seções seguintes.
1. Fundamentos teológico-políticos da autoridade
Entre os antigos, o constitucionalismo clássico, ainda não positivado, já se apresentava como técnica rudimentar – ou pouco elaborada – de limitação do poder soberano. Sócrates (469–399 a.C.), embora não tenha deixado obras escritas, defendia que as leis deviam ser respeitadas em nome da justiça e da vida em comunidade. Platão (427–347 a.C.), em seu mais célebre diálogo, A República, aborda a questão ampla da justiça na cidade-Estado; e em seu último e mais extenso trabalho, as Leis – uma obra com abundante legislação –, sustenta que as normas sob as quais uma cidade é governada seriam mais importantes para o bem-estar da cidade do que o caráter de seu governante5. Aristóteles (384–322 a.C.) classificou os regimes políticos e refletiu sobre o governo das leis (Política). Distinguiu a constituição como organização do poder político e estudou sua função estabilizadora, podendo ser considerado um dos principais precursores do pensamento constitucional.
Enquanto no Baixo Império Romano o termo constutio referia-se a qualquer lei feita pelo imperador, e os interdicta procuravam proteger os direitos individuais contra o arbítrio e a opressão do Estado6, na Grécia existiu, por determinados períodos, um regime político que alcançou o que se pode chamar de democracia constitucional: as democracias diretas das cidades-Estado gregas do século V a.C.7.
Merece destaque o jurista e filósofo romano Cícero (106–43 a.C.), pelo desenvolvimento das noções de direito natural e da supremacia da razão sobre o arbítrio dos governantes. Dentre suas principais obras estão De Re Publica (Da República), De legibus (Das leis), De oratore (Do Orador). Observador das transformações que ocorriam na sociedade romana – embora acusado de ambiguidade em suas opiniões políticas –, Cícero defendia o governo pelas leis, e não pelos homens8.
De modo geral, o constitucionalismo antigo caracterizou-se pela inexistência de constituições escritas, pela prevalência da supremacia do Parlamento – fonte criadora de direitos que não se submetia a qualquer outro poder – e por uma realidade na qual os detentores do poder (reis, imperadores, déspotas) não eram compelidos a seguir regras de conduta. O que lhes conferia ampla irresponsabilidade governamental.
Embora a acepção antiga de constituição não se confunda com a da modernidade, ainda ecoa, até os dias atuais, a afirmação do historiador Charles Howard Mcllwain (1939)9, logo após a deflagração da Segunda guerra Mundial:
“É oportuno insistir que o mais antigo, o mais persistente e duradouro dos caracteres essenciais do verdadeiro Constitucionalismo continua sendo o mesmo do início: a limitação do governo mercê do Direito.”
Na idade média, com o avanço das concepções jusnaturalistas, o direito natural passou a ser concebido como norma superior, à qual até os soberanos estavam submetidos, sob pena de terem seus atos anulados pelo juiz competente. A busca pela limitação do poder arbitrário ensejou o surgimento de textos jurídicos que reconheciam a primazia das liberdades públicas contra o abuso de poder. Um marco relevante foi a promulgação da Magna Charta Libertatum, de 15 de junho de 1215 – instrumento que antecedeu as declarações de direitos fundamentais e serviu de berço a institutos jurídicos vitais às sociedades democráticas contemporâneas, tais como: o direito de petição, a instituição do júri, a cláusula do devido processo legal, o habeas corpus, o princípio do livre acesso á justiça, a liberdade de religião e a proporcionalidade na aplicação das penas10.
Santo Agostinho (354–430) e Tomas de Aquino (1225–1274) oferecem importante contribuição ao constitucionalismo teológico-consuetudinário, influenciando o direito medieval e posterior. Agostino distingue entre a “Cidade de Deus” e a “cidade dos homens”, sustentando a ideia de que a legitimidade da autoridade repousava em sua origem divina – concepção que estruturava o poder como expressão da vontade de Deus. Tomás de Aquino, por sua vez, articula teologia e direito natural, fundando uma teoria da autoridade compatível com a razão e a fé: o poder humano seria legitimado pela lei natural, mas sempre ordenado a Deus como fim último – estabelecendo uma ponte entre o jurídico e o teológico.11
Assim, o constitucionalismo medieval caracterizou-se por uma defesa incisiva das liberdades fundamentais, voltada à exclusão do poder arbitrário do Estado frente aos direitos individuais. Fundamentava-se na concepção de que as leis antecedem ao próprio homem, consolidando uma visão jusnaturalista de constituição. Como observa doutrina especializada, BOULOS (2009, p.13) assinala que:
“(...) a autoridade dos governantes se fundava num contrato com os súditos, as quais obedeceriam à realeza na proporção do comprometimento do príncipe com a justiça. Deus seria o árbitro do fiel cumprimento desse acordo de vontades. Em contrapartida, se o príncipe governasse como um tirano, os súditos deixariam de cumprir os compromissos firmados. Então o Papa, representante da divindade sobre a terra, interferiria para dar a última palavra.”
Do mundo antigo à idade média, a autoridade encontrou respaldo último na mediação entre o divino e o terreno, estruturando-se como expressão teológico-política que legitimava o poder, não por sua origem humana, mas por sua pretensa conexão com o sagrado.
Com o declínio da centralidade do sagrado na organização do poder político e o advento das transformações sociais, econômicas e culturais do final da Idade Média, especialmente a partir do século XVI, novas formas de autoridade começaram a se delinear. A unidade religiosa que até então legitimava o poder sofre abalos significativos com a Reforma Protestante, que não apenas fragmenta a cristandade ocidental, como inaugura uma nova etapa na genealogia do poder: a ruptura com a autoridade religiosa unificada. Esse movimento marca o início de uma transição profunda da legitimação transcendental para a construção de modelos seculares de autoridade, ancorando o poder cada vez mais em fundamentos racionais e políticos.
2. Reforma e ruptura com a autoridade religiosa unificada
A ascensão das ciências no final da Idade Média, os avanços do Renascimento nas artes e no pensamento, a invenção da imprensa e o racionalismo cartesiano criaram um ambiente propício para a reconfiguração do papel do homem no mundo. Nesse contexto de efervescência intelectual e técnica, torna-se possível a crítica à autoridade eclesiástica, favorecendo o surgimento da Reforma como ruptura teológica e política com o modelo de autoridade religiosa unificada.
A história da legitimidade política do Ocidente não pode ser compreendida sem reconhecer o papel central desempenhado pela autoridade religiosa12 como fundamento de coesão social, normatização jurídica e justificação do poder. Durante séculos, a unidade entre fé e governo se impôs como um horizonte inquestionável13, seja no Império cristão, nas monarquias medievais ou nas concepções teológico-políticas que sustentaram a autoridade dos reis como ungidos por Deus. Essa aliança simbólica entre o trono e o altar conferia estabilidade, mas também engessava qualquer tentativa de crítica ou autodeterminação.
Com a Reforma Protestante, no entanto, esse paradigma começa a se dissolver. A centralidade da Igreja de Roma como intérprete exclusiva da verdade espiritual14 e, por extensão, da ordem política, é profundamente abalada. Martinho Lutero15, ao proclamar o livre exame das Escrituras, antecipa formas de organização política baseadas no contrato, na deliberação e na moral pública.
Este momento histórico não representa apenas uma dissidência religiosa, mas um divisor de águas na compreensão do poder, da obediência e da legitimidade. Ao romper com a autoridade religiosa unificada, a Reforma abre caminho para uma nova configuração do espaço político – menos centrada na mediação sacerdotal e mais aberta à razão, à consciência individual e, paulatinamente, à laicização do poder. A semente da autonomia do sujeito e da pluralidade de interpretações já contém, em germe, a futura separação entre fé e política que caracterizará a emergencial do Estado moderno.
2.1. Lutero: ruptura teológica e ressignificação da autoridade
A figura de Martinho Lutero marca a cisão entre o monopólio eclesiástico da verdade e o surgimento da subjetividade autônoma como fundamento da legitimidade. Em sua crítica às indulgências e à autoridade papal, especialmente nas “95 Teses” (1517) e no Tratado á Liberdade Cristã (1520), Lutero retira da igreja a prerrogativa de mediação entre o homem e Deus16. Essa descentralização do sagrado, embora enraizada em uma teologia da graça, engendra desdobramentos políticos: a recusa do controle clerical sobre a consciência individual lança as bases para uma concepção de liberdade que, posteriormente, se traduzirá na ideia de soberania popular.
Segundo Quentin Skinner (The Foundations of Modern Political Thouth, 1978), ao desafiar a autoridade religiosa enquanto guardiã da ortodoxia, Lutero reabre a questão da legitimidade do poder secular – antes justificado pela igreja – como algo que agora deve ser avaliado à luz da Escritura, da consciência e da razão17. A Reforma, nesse sentido, atua como um evento desinstitucionalizador da autoridade teológico-política tradicional, pavimentando o caminho para a politização da fé e a moralização do governo18.
Essa transição, como observa Michel Villey (2008), não foi isenta de paradoxos: se por um lado ela fragmenta o poder espiritual, por outro confere ao príncipe luterano a função de protetor da fé e mantenedor da ordem civil19 – o que configura uma nova aliança entre o trono e o altar, agora reformada e nacional.
2.2. Calvino: disciplina, contrato e a pré-história do constitucionalismo
A teologia de João Calvino, especialmente expressa em sua obra As Institutas (1536), representa um passo além no processo de racionalização da fé e ordenamento social20. Diferentemente de Lutero, que adotava uma postura mais conservadora frente às autoridades constituídas, Calvino introduz elementos de deliberação, responsabilidade coletiva e até resistência legítima ao tirano21. A organização da comunidade eclesial em Genebra antecipa, segundo alguns estudiosos, um modelo protoconstitucional, com instâncias de representação e controle mútuo22.
Louis Althusser, em seus estudos sobre os aparelhos ideológicos de Estado, sugere que a Reforma calvinista institui uma pedagogia disciplinar, em que a interiorização da norma religiosa serve de base para o autocontrole moral23 – mecanismo que prefigura a racionalidade moderna de governo. Nesse sentido, Michel Foucault, ao tratar da “governamentalidade”, permite reler a contribuição de Calvino como parte da longa transição do poder pastoral para o poder disciplinar24: um modo de gestão das almas e dos corpos que se funde com o próprio exercício de governo.
A ideia de “aliança” – tanto no plano teológico (pacto com Deus) quanto político (contrato entre governantes e governados) – insere-se como elo conceitual entre fé e organização do poder. Skinner destaca que, ao reivindicar o direito à resistência contra autoridades ímpias, o pensamento calvinista rompe com a obediência passiva25 e antecipa o princípio da legitimidade baseada no consentimento, que será central na filosofia política contratualista dos séculos seguintes26.
A ruptura com a autoridade religiosa unificada instaurada pela Reforma não apenas fragmentou os alicerces da coesão espiritual do Ocidente, como também exigiu novas formas de organização política e jurídica. A perda da centralidade eclesiástica abriu espaço para uma progressiva laicização do poder e para a construção de estruturas estatais baseadas em fundamentos seculares, racionais e administrativos. Nesse novo cenário, o Estado passa a se consolidar como principal portador da autoridade legítima, não mais em nome da fé, mas da razão de Estado, da soberania e da ordem civil.
É nesse contexto de profundas reconfigurações institucionais e filosóficas que se insere a emergência do Estado moderno.
3. A emergência do Estado moderno e do poder secular
A Reforma Protestante não apenas alterou os alicerces da autoridade religiosa, como também acelerou a desinstitucionalização da teologia como matriz exclusiva da legitimação do poder. O deslocamento da soberania espiritual para a consciência individual e, posteriormente, para a esfera civil, operou uma transformação profunda nas formas de dominação e nos critérios de autoridade legítima. Nesse processo, o poder deixou de se fundar exclusivamente na transcendência – na mediação eclesiástica ou na consagração divina – para ser racionalizado no plano das relações humanas, institucionais e jurídicas. Nas palavras de Michel Foucault, trata-se da substituição de um poder pastoral que “cuida das almas” para uma governamentalidade que busca gerir corpos, populações e territórios27.
A emergência do Estado moderno, portanto, coincide com a consolidação de um novo regime de verdade e de normatividade: o poder secular se afirma como resposta às crises de autoridade religiosa e à fragmentação doutrinária que a Reforma provocou. A perda da unidade teológica como base do ordenamento político exige a construção de uma nova legitimidade – fundada não mais na revelação, mas na razão, no contrato e na institucionalidade. Como observa Quentin Skinner, os debates do século XVI abrem caminho para uma nova concepção de autoridade política, desvinculada da ortodoxia e ancorada na representação, na soberania popular e no consentimento dos governados28.
Nesse sentido, a Reforma não pode ser vista apenas como um evento teológico, mas como parte constitutiva da genealogia do Estado moderno e do direito secular. A racionalização da fé, a interiorização da norma moral e a substituição da lei divina por códigos civis e constituições laicas são sintomas de um novo paradigma jurídico-político, no qual o poder não se legitima por consagração, mas por pactuação. Tal transformação representa, como diria Michel Villey, o nascimento de uma filosofia do direito iminentemente política, cujo centro de gravidade migra da eternidade para a história, e do altar para o tribunal29.
A transição da autoridade teológica-política para a soberania estatal marca um dos momentos mais decisivos da modernidade ocidental. Entre os séculos XVI e XVIII, pensadores europeus passaram a conceber o poder não mais como um reflexo direto da vontade divina, mas como resultado de convenções humanas, pactos sociais e estratégias de dominação. O Estado moderno emerge, assim, como uma entidade autônoma, dotada de racionalidade própria, de aparato jurídico-institucional e de um monopólio legítimo da violência – nos termos consagrados por Max Weber.
Diante do exposto, fácil perceber que a construção do Estado moderno constitui uma inflexão histórica e epistemológica sem precedentes na teoria do poder. Do ponto de vista genealógico, representa a ruptura com a lógica teológico-política que, durante séculos, legitimou a autoridade como expressão da vontade divina ou de um direito natural transcendente. O advento da modernidade – em suas múltiplas dimensões religiosas, filosóficas, jurídicas e política – introduz um novo paradigma: o do poder secular fundado na razão, na soberania e na codificação das instituições.
Essa transição não se deu de modo linear ou consensual. Foi marcada por embates entre concepções rivais de autoridade e legitimidade, oscilando entre o absolutismo régio, o contratualismo cívico e a racionalização técnico-jurídica do poder. Como observa Michel Foucault, o que se inaugura nesse período é uma nova economia do poder, que desloca seu fundamento do plano da transcendência para o plano da imanência, reorganizando as práticas de governo sob a égide da normatividade racional, da segurança e do disciplinamento dos corpos.
Pensadores como Maquiavel, Bodin, Hobbes, Locke e Rousseau não apenas refletem essa transição: cada um, a seu modo, contribui para a consolidação do vocabulário político moderno. Suas obras constituem, portanto, momentos-chave de uma disputa semântica em torno de conceitos como soberania, contrato, lei, vontade geral e liberdade, os quais darão forma ao Estado moderno e ao seu regime de legitimidade.
Nos subtópicos seguintes, analisaremos como cada autor participou dessa construção, apontando as continuidades e rupturas entre eles, bem como os desdobramentos teórico-políticos de suas proposições.
3.1. Maquiavel: o poder como técnica
Maquiavel (1469-1527) é o primeiro grande nome a romper deliberadamente com a tradição moral cristã que condicionava o exercício do poder à virtude. Em O Príncipe (1532), o florentino inaugura uma abordagem realista da política, na qual a eficácia se sobrepõe à moral, e a razão de Estado emerge como categoria fundante30. A separação entre política e religião, entre poder e verdade, entre meios e fins, constitui um marco decisivo na secularização do governo31.
Sua noção de virtù, entendida como a capacidade de agir estrategicamente para manter o poder, desloca a legitimidade do campo do direito divino para o campo da técnica e da prudência. Nesse sentido, Maquiavel é o ponto zero da modernidade política: inaugura a análise do poder como fenômeno imanente, fundado na contingência histórica e na ação humana32.
3.2. Jean Bodin: soberania e unidade do poder
Jean Bodin (1530-1596), em Os Seis Livros Da República (1576), sistematiza o conceito de soberania como poder absoluto, indivisível e perpétuo do Estado33. Em resposta às guerras de religião que assolavam a França, Bodin busca um princípio de unificação capaz de garantir a ordem civil. Embora não rejeite completamente a fundamentação religiosa, ele atribui ao soberano – e não mais à igreja – a autoridade final sobre as leis34.
A inovação de Bodin consiste em apresentar o Estado como uma estrutura jurídica acima de todas as demais instâncias, inclusive as religiosas. Sua definição de soberania prepara o caminho para o absolutismo moderno e estabelece as bases para o poder secular como instância última de decisão. Segundo Michel Villey, Bodin desloca a fonte da ordem jurídica do direito natural para a autoridade do legislador, antecipando o positivismo legalista moderno35.
3.3. Hobbes: o Leviatã e o medo como fundamento
Thomas Hobbes (1588-1679), em Leviatã (1651), leva o argumento soberanista ao extremo. Para ele, o Estado nasce de um contrato social firmado entre indivíduos movidos pelo medo mútuo e pelo desejo de autopreservação. A condição natural é uma guerra de todos contra todos (bellum omnium contra omnes), e somente a criação de um soberano absoluto – o Leviatã – pode garantir a paz36.
A originalidade de Hobbes reside em fundar o poder político na vontade dos próprios indivíduos, e não em uma ordem transcendental. A obediência ao soberano não deriva da vontade divina, mas de um cálculo racional de sobrevivência37. Trata-se, como diria Althusser, da transição de um aparelho ideológico religioso para um aparelho de Estado baseado na autoridade racional e no contrato; ou seja, um aparelho de Estado centralizado, racional e disciplinador38. A legitimidade deixa de ser teológica e torna-se contratual, fundada no medo, mas também na razão.
3.4. Locke: direito natural e limitação do poder
Lo Em oposição ao absolutismo hobbesiano, John Locke (1632-1704), nos Dois Tratados sobre o Governo Civil (1689), concebe um modelo liberal no qual o contrato social visa proteger os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. O poder político legítimo é aquele que se submete à lei e respeita o consentimento dos governados39.
Locke articula uma teoria do governo limitado e da soberania popular que influenciará profundamente o constitucionalismo moderno. O Estado, para ele, não cria os direitos, mas apenas os protege. A separação entre os poderes e o direito à resistência contra governos tirânicos são inovações fundamentais que estabelecem os fundamentos jurídicos do liberalismo político40.
3.5. Rousseau: vontade geral e o pacto social
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), por sua vez, radicaliza a noção de contrato social ao propor que a soberania reside na vontade geral. Em Do Contrato Social (1762), ele argumenta que a liberdade só é possível quando o indivíduo obedece às leis que ele mesmo ajudou a criar como parte do corpo coletivo41. O Estado deixa de ser um instrumento de coerção para tornar-se a expressão da autonomia coletiva.
A proposta rousseauniana introduz um novo paradigma de legitimidade: a obediência ao Estado é legítima se, e somente se, este expressar a vontade geral. Essa concepção será fundamental para o republicanismo moderno e para a ideia de cidadania ativa42. Como observa Foucault, Rousseau antecipa formas modernas de subjetivação política, nas quais o indivíduo não é apenas governado, mas também participa da constituição do poder43.
Tabela 1: Distinções e conexões filosófico-jurídicas
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
A tabela acima sintetiza as principais distinções e interrelações entre os pensadores fundamentais da formação do constitucionalismo moderno. A genealogia do poder moderno, construída entre os séculos XVI e XVIII, revela um percurso de secularização da autoridade, com deslocamento da fonte da legitimidade do plano teológico para o jurídico-político.
Cada autor inaugura ou refina dimensões distintas do poder moderno: de sua tecnificação por Maquiavel à juridificação contratual em Locke, passando pelo absolutismo racionalizado de Hobbes e a soberania coletiva em Rousseau. Esse arcabouço conceitual fornece as bases para as constituições escritas modernas e seus modelos institucionais de contenção do poder.
Encerrada a análise dos principais pensadores modernos, é possível destacar como suas doutrinas culminam na formação do constitucionalismo como fenômeno jurídico, político e social. A partir do final do século XVIII, especialmente com as Constituições dos Estados Unidos (1787) e da França (1791), inaugura-se o ciclo moderno das Constituições escritas, com o objetivo de limitar o poder arbitrário e garantir direitos fundamentais44.
Como observa Uadi Lammêgo Bulos, o constitucionalismo moderno nasce com a ideia de supremacia da Constituição e da rigidez de suas normas45. A Constituição passa a ser instrumento normativo central, com previsibilidade, publicidade e legitimidade fundada na soberania popular.
A doutrina constitucional moderna distingue os poderes constituintes segundo sua origem, função e limites:
Poder Constituinte originário (1º grau): é aquele que institui uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior. É autônomo, ilimitado e incondicionado, surgindo em momentos de ruptura política ou revolução.
Poder Constituinte Derivado ou reformador (2º Grau): é o poder de emenda da Constituição vigente. Subordinado e limitado, deve respeitar os procedimentos e limites impostos pela própria Carta Constitucional, incluindo as cláusulas pétreas.
Poder Constituinte Decorrente (3º Grau): conferido aos entes federativos para elaborarem suas próprias Constituições, como ocorre com os Estados-membros no Brasil, nos termos do art. 25 da Constituição Federal.
Poder Constituinte de 4º Grau: segundo interpretação clássica, diz respeito ao poder hermenêutico, que opera transformações constitucionais por via interpretativa, sem modificação textual46. Alternativamente, Bulos propõe que esse poder seja exercido pelos municípios na elaboração de suas Leis Orgânicas, com base no art. 29 da CF/8847.
O surgimento das cláusulas pétreas marca um avanço no princípio da rigidez constitucional, impedindo reformas que atentem contra o núcleo fundamental da ordem constitucional, como os direitos fundamentais, a separação dos poderes e a forma federativa do Estado (CF/88, art. 60, §4º).
A classificação das Constituições é tema recorrente na doutrina constitucional e reflete a multiplicidade de critérios utilizados para analisar o fenômeno constitucional. Conforme sistematização de José Afonso da Silva (2010), é possível classificá-las quanto ao conteúdo, à forma, ao modo de elaboração, à origem e à estabilidade.
Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou formal. A Constituição material é aquela definida pelo conteúdo das normas que regulam a organização fundamental do Estado, independentemente da forma como estejam expressas. Já a Constituição formal refere-se ao documento solene e codificado que recebe a denominação jurídica de Constituição, mesmo que contenha normas não diretamente estruturantes do Estado.48
Quanto à forma, distingue-se entre constituições escritas e não escritas. A Constituição escrita é codificada em um único texto legal, elaborado por um órgão competente, conforme modelo predominante desde o constitucionalismo moderno. A Constituição não escrita ou consuetudinária, como a do reino Unido, resulta da reunião de costumes, jurisprudências, convenções parlamentares e atos legislativos esparsos, que ao longo do tempo adquiriram força equivalente à de uma constituição escrita49.
Quanto ao modo de elaboração, a constituição pode ser dogmática ou histórica. A constituição dogmática é aquela deliberadamente elaborada por um poder constituinte em momento fundacional do Estado ou de uma nova ordem política, com caráter sistemático e racional. Por outro lado, a constituição histórica é fruto de um processo gradativo e não sistematizado, formado por costumes e práticas reiteradas ao longo do tempo, como é o caso do constitucionalismo inglês50.
Quanto à origem, distingue-se entre constituições populares ou democráticas e outorgadas. A Constituição popular é elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita ou submetida a plesbicito ou referendo, refletindo a soberania popular. A Constituição outorgada, ao contrário, é imposta unilateralmente por uma autoridade, geralmente em regimes autoritários ou absolutistas, sem participação democrática efetiva51.
Quanto à estabilidade, as constituições classificam-se em rígidas, flexíveis e semirrígidas. A constituição rígida exige, para sua modificação, um procedimento mais solene e complexo do que aquele utilizado para a legislação ordinária, exigindo quórum qualificado e, por vezes, referendo ou aprovação em múltiplas instâncias legislativas. A constituição flexível pode ser alterada pelo mesmo processo legislativo das leis ordinárias, sem exigência de rito especial. Já a constituição semirrígida possui normas que exigem procedimentos diferenciados e outras que podem ser modificadas ordinariamente52.
Tabela 2. Classificação das Constituições: 53
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Encerrada a análise dos principais pensadores que fundaram a matriz moderna do constitucionalismo – cada qual operando uma ruptura específica com a tradição teológico-política medieval –, é possível observar que o conceito de legitimidade migra progressivamente do sagrado para o racional, do transcendente para o imanente, da autoridade divina apara o pacto entre indivíduos e a razão pública. Contudo, essa fundação inicial do poder moderno ainda carecia de um aprofundamento sistemático em relação à forma como o poder deveria ser distribuído, exercido e justificado no plano da legalidade e da moralidade pública.
É nesse contexto que, entre os séculos XVIII e XIX, se consolida uma nova etapa da teoria política: a racionalização do poder, marcada por uma crítica iluminista ao arbítrio e ao absolutismo, por uma ênfase no direito, na separação entre os poderes e na construção de um sistema normativo legitimado pela razão. Trata-se de um novo giro filosófico, no qual a legitimidade moderna se articula não mais apenas como derivação contratual, mas como expressão da razão universal, da liberdade e do espírito histórico54.
4. A racionalização do poder e a crítica iluminista: a legitimidade moderna
Com o advento do iluminismo, o pensamento político e jurídico ingressa em uma nova fase, marcada pelo predomínio da razão crítica, da liberdade como fundamento normativo do Estado e da limitação do poder por meio de instituições racionalmente organizadas. A crítica iluminista não apenas desautoriza o fundamento teológico do absolutismo, como também propõe um modelo de Estado baseado em princípios universais de justiça, legalidade e liberdade55.
Montesquieu, Kant e Hegel, cada um a seu modo, são fundamentais nesse processo de consolidação de uma legitimidade moderna. Montesquieu, ao formular o princípio da separação dos poderes, estrutura a arquitetura do Estado de Direito e limita o poder pelo próprio poder: “Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder”56. Kant, por sua vez, introduz uma filosofia política baseada na autonomia da vontade e no imperativo categórico, estabelecendo um vínculo indissociável entre moralidade e legalidade57. Já Hegel, ao sistematizar o Estado como a realização da realidade objetiva no plano da história, oferece uma concepção dialética da legitimidade política, na qual o Estado ético representa a síntese entre a subjetividade individual e a universalidade das instituições58.
Nesse tópico, examinaremos como esses autores contribuíram para a fundamentação filosófica do constitucionalismo moderno e para a consolidação da legitimidade racional do poder estatal, projetando os alicerces do que viria a ser o Estado liberal-burguês do século XIX.
4.1. Montesquieu: a separação dos poderes como princípio racional de limitação
Montesquieu (1689-1755), em Do Espírito das Leis (1748), é o grande formulador do princípio da separação dos poderes, concebido como mecanismo racional de contenção do arbítrio. Ao estudar as leis em sua relação com a geografia, a cultura e os regimes políticos, Montesquieu propõe que a liberdade política só é possível onde o poder legislativo, executivo e judiciário estão distribuídos de maneira autônoma, porém equilibrada59.
Para ele, “tout homme qui a du puvoir est porté à en abuser” (todo homem que tem poder é levado a abusar dele). Daí a necessidade de que o poder limite o poder: “il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” [60] .
A inovação montesquiana reside na racionalização do poder como técnica de equilíbrio institucional, superando a concentração absoluta do soberano. Em termos jurídicos, essa concepção será a matriz do constitucionalismo liberal, pois inscreve limites à atuação do Estado com base na arquitetura institucional e não apenas na virtude dos governantes61.
4.2. Kant: autonomia, razão prática e o direito como expressão da liberdade
Immanuel Kant (1724-1804), sobretudo em A Paz Perpétua (1795) e na Doutrina do Direito (1797), articula uma teoria jurídico-política baseada na autonomia da vontade e no princípio da razão prática. Para Kant, a liberdade é o fundamento do direito, e o Estado de Direito é a condição jurídica da coexistência das liberdades62.
A legitimidade do poder político não advém do medo (como em Hobbes), nem apenas do consentimento (como em Locke), mas da universalidade da norma moral: o poder é legítimo quando permite que todos ajam de modo compatível com o imperativo categórico. A obediência às leis é compatível com a liberdade porque essas leis devem ser fruto da razão pública, como se os cidadãos fossem, ao mesmo tempo, autores e destinatários da norma63.
Kant concebe a constituição republicana como a única forma compatível com a dignidade moral dos indivíduos, pois apenas ela assegura igualdade jurídica e liberdade civil64.
4.3. Hegel: o Estado como realização da liberdade objetiva
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), em Princípios da Filosofia do Direito (1820), desenvolve uma teoria dialética do Estado, concebido como a concretização da liberdade racional. Para Hegel, a liberdade não é apenas subjetiva (liberdade de escolha), mas objetiva: ela se realiza na história, na eticidade (Sittlichkeit) e nas instituições políticas. O Estado, enquanto expressão do Espírito Absoluto, representa a síntese entre o interesse individual e o interesse universal65.
Contra os contratualistas, Hegel não vê o Estado como uma convenção entre indivíduos isolados, mas como fruto da racionalidade histórica. A constituição não é apenas um documento jurídico, mas a forma concreta pela qual a liberdade ética se manifesta em uma sociedade66.
Sua concepção de legitimidade baseia-se no reconhecimento institucional: o poder é legítimo quando exprime a racionalidade da totalidade e assegura a mediação entre a família, a sociedade civil e o Estado político. Assim, o direito, a moral e o Estado formam uma totalidade lógica e histórica67.
A racionalização do poder no iluminismo promoveu uma inflexão decisiva na teoria política moderna: o poder já não se legitimava pelo medo, pela vontade divina ou pela técnica de governo, mas por sua adequação à razão pública, à liberdade e à estrutura institucional. Montesquieu sistematiza a separação dos poderes como limite estrutural ao arbítrio; Kant ancora o direito na autonomia da vontade racional e na moral universal; e Hegel enxerga no Estado a forma concreta da liberdade ética realizada na história68.
Esse deslocamento do fundamento da autoridade para a razão permite que o poder político deixe de ser apenas uma força de coerção e passe a ser compreendido como expressão da liberdade institucionalizada. A legitimidade, portanto, passa a depender da racionalidade das normas, da participação dos cidadãos e da conformidade do Estado com a moral pública69.
Essa racionalização encontra seu ápice nas teorias do constitucionalismo moderno, que não apenas codificam os limites ao poder, mas formalizam juridicamente os princípios de liberdade, igualdade e representação. O constitucionalismo não é apenas um modelo jurídico: é a institucionalização da crítica iluminista ao poder arbitrário70.
Tabela 3. Comparação entre Montesquieu, Kant e Hegel (racionalização do poder)
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
A racionalização do poder promovida pelo iluminismo, como se analisou nas concepções de Montesquieu, Kant e Hegel, não apenas subverteu os fundamentos tradicionais da autoridade política como também lançou as bases conceituais do constitucionalismo moderno. A substituição da legitimidade de origem teológica ou contratual por fundamentos racionais – vinculados à autonomia, à moralidade universal e à organização dialética do Estado – culminou na exigência de um ordenamento jurídico que expressasse, de forma sistemática, os princípios da legalidade, liberdade e igualdade.
Essa inflexão conceitual não se limita a uma reconfiguração filosófica do poder. Ela impõe uma transformação estrutural no modo de organização normativa do Estado, exigindo um aparato jurídico capaz de formalizar racionalmente os limites do poder e garantir a realização concreta dos direitos. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno emerge como a forma jurídico-institucional de positivação das ideias iluministas, transformando princípios filosóficos em normas vinculantes.
É nesse cenário que se consolidam duas das mais influentes teorias jurídicas do século XX: a teoria pura do direito, de Hans Kelsen, e a teoria decisionista da constituição, de Carl Schmitt. Ambas representam tentativas – divergentes e, em muitos aspectos, antagônicas – de responder aos desafios da normatividade, da legitimidade e da autoridade no Estado moderno. Kelsen, por um lado, propõe uma ciência do direito desvinculada de pressupostos morais, políticos ou sociológicos, estruturando a ordem jurídica em uma hierarquia normativa formalmente autônoma. Schmitt, por outro lado, reintroduz a dimensão política como fundamento da constituição, afirmando que a decisão soberana – e não a norma – é o verdadeiro ponto de partida da ordem jurídica.
Dessa maneira, o tópico 5 se dedicará a examinar as principais formulações teóricas do constitucionalismo moderno a partir dessas duas concepções fundamentais: a normatividade kelseniana e a exceção schmittiana. Trata-se de compreender como o direito constitucional moderno articula os ideais de razão, legalidade e soberania, em um campo marcado por tensões entre formalismo normativo e conteúdo político, entre a estrutura jurídica e a decisão fundante.
5. Teoria jurídica do constitucionalismo moderno
A transição do pensamento político-filosófico para o constitucionalismo moderno representa a positivação jurídica dos limites ao poder. Se no iluminismo a razão era concebida como fundamento da legitimidade, o constitucionalismo a transforma em norma: normas superiores, juridicamente vinculantes, destinadas a conter os abusos do poder e a proteger os direitos fundamentais. O constitucionalismo moderno emerge, assim, como uma doutrina normativo-institucional que responde à concentração arbitrária do poder, buscando institucionalizar a soberania popular, assegurar a separação dos poderes e garantir as liberdades individuais.
No presente tópico, examinam-se os principais fundamentos do constitucionalismo moderno71, com atenção especial aos conceitos de supremacia constitucional, rigidez normativa, separação dos poderes, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade – pilares que marcam sua evolução doutrinária tanto na tradição europeia quanto na norte-americana.
O paradigma normativo da legitimidade moderna – fundado na razão, na liberdade e na juridicidade – estrutura-se em torno de oito eixos fundamentais:
Supremacia da Constituição: como norma fundamental (Grundnorm), a Constituição ocupa o ápice da pirâmide normativa, vinculando todos os atos do Estado, conforme a teoria pura do direito de Hans Kelsen.
Separação dos Poderes: com inspiração no pensamento de Montesquieu, o poder estatal é organizado em funções legislativa, executiva e judiciária, como forma de prevenir o absolutismo e preservar o equilíbrio institucional.
Soberania Popular: a legitimidade do poder decorre da vontade do povo, expressa diretamente – por meio de referendos e plebiscitos – ou indiretamente, através de representantes eleitos.
Direitos Fundamentais: direitos como a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade são elevados a status constitucional, formando o núcleo duro (inatingível) da Constituição, muitas vezes protegidos por cláusulas pétreas.
Princípio da Legalidade e Estado de Direito: todo exercício do poder deve estar conformado à lei. O Estado submete-se a normas jurídicas, garantindo previsibilidade, racionalidade e segurança jurídica.
Controle de Constitucionalidade: instrumento por meio do qual se assegura a conformidade dos atos normativos e administrativos à Constituição. Pode ser difuso (judiciário comum) ou concentrado (tribunal constitucional), preventivo ou repressivo.
Rigidez Constitucional: as Constituições modernas exigem procedimentos especiais, formais e qualificados para sua alteração, assegurando estabilidade institucional e proteção contra maiorias voláteis.
Cláusulas Pétreas: dispositivos constitucionais que não podem ser abolidos nem mesmo por emendas, com o intuito de preservar os fundamentos essenciais do Estado democrático de direito.
Esses elementos não apenas definem a estrutura normativa do Estado moderno, mas também revelam sua pretensão de racionalizar e estabilizar o exercício do poder sob o império da lei. No entanto, como se verá nos próximos tópicos, os próprios fundamentos da normatividade constitucional moderna foram objeto de intensas disputas teóricas, principalmente entre os pensadores Hans Kelsen e Carl Schmitt, cujas concepções ainda reverberam nos debates contemporâneos sobre poder, legitimidade e ordem jurídica.
O século XX assiste à consolidação da teoria constitucional como campo autônomo de saber jurídico. Após a institucionalização dos direitos fundamentais, e a afirmação da soberania popular, emergem os grandes debates teóricos sobre a normatividade da Constituição, sua posição no ordenamento e a estrutura lógica do direito. Nesse contexto, Hans Kelsen e Carl Schmitt se destacam por elaborarem perspectivas antagônicas, porém igualmente estruturantes da teoria do Estado moderno. O primeiro defende a normatividade pura do direito, a partir de uma perspectiva formalista e positivista. O segundo propõe uma teoria decisionista do soberano, centrada na exceção e na dimensão política do direito. Ambos formulam repostas distintas à crise da modernidade jurídica, marcando a transição entre normatividade ideal do constitucionalismo e os dilemas concretos da política de massas e da emergência autoritária no período entre guerras.
5.1. Hans Kelsen: normatividade, hierarquia e unidade do ordenamento
Hans Kelsen (1881-1973)72, um dos juristas mais influentes do século XX e considerado um dos maiores teóricos do constitucionalismo jurídico moderno, formula sua teoria pura do direito como resposta à contaminação do direito pelo político, pelo moral e pelo religioso. Em sua obra Teoria Pura do Direito (Reine Rechtslehre, 1934), propõe uma análise imanente da norma jurídica, buscando um conhecimento objetivo e científico do direito, ou seja, ele buscava separar o direito da política, da moral e da sociologia, fundando uma ciência jurídica autônoma, racional e normativa. Para Kelsen, o direito é um sistema de normas hierarquicamente organizadas, cujo ápice é a Constituição, concebida como norma fundamental (Grundnorm) que confere validade às demais.
O constitucionalismo moderno, sob a ótica kelseniana, é expressão da vontade normativa do poder constituinte originário, cuja principal função é instituir um ordenamento jurídico coerente e válido. A constituição, portanto, não é apenas um documento político, mas a norma suprema que regula a produção normativa do Estado. Seu caráter rígido decorre da necessidade de estabilidade do sistema jurídico e da previsibilidade das relações sociais73.
Ao separar o “ser” do “dever-ser”, Kelsen despolitiza o conceito de soberania e desloca o centro da legitimidade para a legalidade. O poder, nesse sentido, é legítimo quando exercido conforme a Constituição, e a obediência à norma jurídica independe de seu conteúdo axiológico. Sua concepção de Tribunal Constitucional como “guardião da Constituição” inaugura a era da jurisdição constitucional moderna74.
Assim, no contexto do constitucionalismo, Kelsen propõe uma compreensão formal e estrutural do poder: o ordenamento jurídico se organiza em uma pirâmide normativa, onde as normas inferiores derivam validade das superiores, culminando na Constituição. O poder constituinte originário é uma hipótese lógico-transcendental que justifica a validade da norma fundamental, e o poder constituinte derivado deve operar nos estritos limites impostos pelo texto constitucional75.
Kelsen também foi um dos primeiros autores a formular e defender de forma sistemática o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, criando o modelo austríaco de jurisdição constitucional, que inspira os tribunais constitucionais europeus até hoje. Para ele, o Tribunal Constitucional deve ser um órgão técnico, incumbido de garantir a supremacia da Constituição e manter a coerência do sistema normativo76.
Dessa forma, o constitucionalismo moderno, sob a ótica kelseniana, é fundamentalmente normativo e racionalizado, sendo a legitimidade do poder deduzida da legalidade formal. A Constituição passa a ser compreendida como a base lógica e normativa de todo o ordenamento jurídico, e sua supremacia é garantida pelo controle de constitucionalidade e pela rigidez formal77.
5.2. Carl Schmitt: decisão, exceção e soberania
Carl Schmitt (1888-1985)78, jurista e filósofo político alemão, apresenta uma crítica contundente à normatividade kelseniana, sustentando que o direito não pode ser reduzido a uma estrutura lógica de normas. Em sua perspectiva, o jurídico é sempre político e, por isso, a decisão precede a norma. Ou seja, o fundamento último do direito não é normativo, mas decisório. Em “Teologia Política” (Politische Theologie, 1922), Schmitt afirma que “é soberano aquele que decide mesmo em situações excepcionais”79 – isto é, aquele que, diante de uma crise, tem o poder de suspender a ordem jurídica para preservá-la –, rompendo com a neutralidade formal do direito e restituindo à política seu lugar central na teoria constitucional. Sua teoria enfatiza que todo sistema normativo pressupõe ama autoridade capaz de decidir fora do direito80.
No centro de sua crítica ao normativismo kelseniano, está a constatação de que a Constituição não se sustenta apenas ´pela norma, mas por uma decisão política originária. Essa decisão funda a ordem jurídica e revela o seu verdadeiro fundamento: a vontade política concreta do titular do poder do soberano. Assim, o poder constituinte é uma decisão político-existencial da comunidade política – não apenas um ato forma ou procedimental81.
A distinção entre Constituição (no sentido material; decisão política sobre a forma de unidade do povo) e leis constitucionais (no sentido formal; normas derivadas dessa decisão) também é central para Schmitt. A Constituição, enquanto decisão fundamental sobre a forma de governo, unidade política e titularidade do poder, não pode ser emendada por meras leis constitucionais; é expressão de uma vontade originária que transcende os mecanismos legais ordinários. Schmitt enfatiza, portanto, que o constitucionalismo não é apenas uma técnica jurídica, mas um fenômeno existencial e político, cuja legitimidade depende da identidade e da vontade do povo enquanto unidade política concreta. Essa concepção abre espaço para uma crítica ao liberalismo jurídico e à ideia de neutralidade do direito, enfatizando que, em momento de crise, é o soberano – e não a norma – quem decide. Sua visão foi posteriormente criticada por sua afinidade com regimes autoritários, mas permanece influente nas discussões sobre estado de exceção, poder e legitimidade na contemporaneidade82.
A oposição entre Kelsen e Schmitt ilustra um dos grandes dilemas da modernidade jurídica: a tensão entre normatividade e decisão, entre legalidade e legitimidade. Com o avanço da complexidade social e o colapso das estruturas políticas clássicas, a racionalidade moderna entra em crise. A confiança no direito como instrumento neutro de regulação é abalada por transformações econômicas, culturais e epistemológicas que exigem novas formas de legitimação do poder.
No próximo tópico, adentraremos as críticas contemporâneas à racionalidade normativa, com foco em três pensadores fundamentais: Max Weber, Jürgen Habermas e Michel Foucault. A partir de enfoques próprios, cada autor reconstrói a relação entre poder, direito e legitimidade em um contexto marcado pela pluralidade, pela burocratização e pela biopolítica.
6. Crítica contemporânea à racionalidade normativa e à legitimação moder na
Após a consolidação do constitucionalismo moderno como ordenamento racional e jurídico do poder – conforme visto nas teorias de Kelson e Schmitt –, a teoria política e jurídica do século XX passa a refletir criticamente sobre os fundamentos, os limites e as contradições da modernidade. A razão normativa que havia prometido estabilidade e legitimidade é confrontada com novas formas de dominação, exclusão e instrumentalização do sujeito.
Diante desse panorama, três pensadores se destacam por oferecerem perspectivas distintas e complementares sobre a crise da racionalidade moderna: Max Weber, Jürgen Habermas e Michel Foucault. A tensão entre normatividade e decisão, expressa nas obras de Kelsen e Schmitt, evidencia os limites do paradigma jurídico moderno. A racionalização do poder, que buscava a superação do arbítrio por meio da legalidade, encontra obstáculos diante da complexidade das sociedades contemporâneas, marcadas pela fragmentação cultural, pela burocratização das instituições e pela intensificação das formas de dominação técnica e simbólica.
Nesse cenário, a crítica à racionalidade moderna torna-se inevitável. Cada um a seu modo, Weber, Habermas e Foucault questionam os pressupostos do direito moderno como instrumento de emancipação e de organização legítima da autoridade. Suas análises revelam que a normatividade, por si só, é insuficiente para garantir legitimidade em contextos nos quais o poder assume formas impessoais, disciplinares ou estratégicas.
Este tópico examina como esses três autores desconstroem os fundamentos da legitimação jurídica moderna, apontando os impasses e as mutações da autoridade no mundo contemporâneo. Weber analisa o desencantamento do mundo e o poder racional-legal como forma predominante de dominação legítima; Habermas propõe a teoria do agir comunicativo como alternativa normativa à racionalidade instrumental; e Foucault revela os mecanismos de poder que operam para além da lei, na micropolítica dos corpos e na gestão biopolítica da vida.
6.1. Max Weber: racionalidade instrumental e desencantamento do mundo
Max Weber (1864-1920), ao analisar o processo de racionalização da vida social ocidental, identifica a transição do mundo tradicional – baseado na autoridade carismática ou na tradição – para um mundo dominado pela racionalidade formal e pela burocratização das instituições. Em sua obra Economia e Sociedade, Weber descreve o Estado moderno como uma estrutura que monopoliza o uso legítimo da força física, operando através de normas jurídicas impessoais e de uma burocracia racional-legal83.
Entretanto, essa racionalização traz consigo o que Weber chama de “desencantamento do mundo” (Entsauberung der Welt): a perda de sentido último, a substituição dos valores substanciais por meios técnicos e procedimentos formais84. O direito moderno, embora racional, torna-se cada vez mais instrumento técnico de gestão social, dissociado da ética e da substância da justiça. A legitimação do poder desloca-se para a competência técnica e para a legalidade formal, o que, segundo Weber, pode levar a uma “jaula de ferro” (stahlhartes Gehäuse) da racionalidade instrumental85.
6.2. Jürgen Habermas: ação comunicativa e legitimação democrática
Jürgen Habermas (1929–), herdeiro crítico da tradição iluminista, propõe um resgate da racionalidade moderna por meio da ação comunicativa – ou seja, da capacidade dos sujeitos de produzirem consensos racionais mediante o diálogo livre de coerção. Em Direito e Democracia e Teoria do Agir Comunicativo, Habermas defende que a legitimidade do poder não pode advir apenas da legalidade formal (como em Kelsen), mas deve fundar-se na participação democrática dos cidadãos nos processos de deliberação política86.
Habermas elabora a ideia de um “discurso jurídico’ fundado na ética do discurso, segundo a qual normas só são legítimas se puderem ser aceitas por todos os afetados, em condições ideais de argumentação. Assim, o constitucionalismo democrático não é apenas forma jurídica, mas processo intersubjetivo contínuo de construção normativa. Contra a racionalidade instrumental, propõe uma racionalidade comunicativa, voltada ao entendimento mútuo e à inclusão discursiva87.
6.3. Michel Foucault: poder disciplinar e biopolítica
Michel Foucault (1926-1984) opera uma ruptura ainda mais radical com a tradição moderna, ao deslocar o foco da legitimação do poder para suas formas de exercício e seus efeitos sobre os corpos e as populações. Em obras como Vigiar e Punir e História da Sexualidade, Foucault analisa como o poder moderno não se limita ao aparato jurídico do Estado, mas penetra as instituições (prisões, escolas, hospitais) e os discursos, exercendo-se de modo capilar e descentralizado88.
Em vez de um soberano que proíbe, o poder moderno normaliza, disciplina e regula. Surge, com isso, a noção de biopolítica: formas de gestão da vida e do corpo social que operam por meio de saberes técnicos e dispositivos de controle89. A legitimidade deixa de ser a questão central. O que interessa é como o poder se infiltra na vida cotidiana, produzindo subjetividades e delimitando possibilidades de existência. Para Foucault, o sujeito de direitos do constitucionalismo moderno é também o sujeito da norma, formatado e vigiado por tecnologias de poder90.
Tabela 4. Da racionalidade normativa à crítica contemporânea
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Essa crítica contemporânea à racionalidade normativa clássica e ao ideal moderno de legitimação é solo fértil para um novo estágio de compreensão do poder. A partir dela, tona-se possível conceber uma nova configuração constitucional, que não apenas regula o poder, mas que expressa as novas formas de subjetividade e os desafios políticos do presente.
No próximo tópico, será analisada uma transformação radical do papel das constituições na contemporaneidade, por meio da ideia de uma nova arquitetura do poder – o deus social hodierno. O deus social hodierno não substitui apenas o soberano teológico; substitui também a razão jurídica como fundamento exclusivo da legitimidade.
7. A Constituição contemporânea: o deus social hodierno
Na esteira das críticas à racionalidade normativa do constitucionalismo moderno, o século XXI testemunha um deslocamento paradigmático na compreensão da Constituição. De modelo jurídico-normativo centrado na razão instrumental, o constitucionalismo contemporâneo passa a operar como estrutura viva da sociedade, orientada por novos vetores de poder, identidade e produção de sentido. Surge, nesse cenário, a figura do que aqui se denomina “deus social hodierno” – uma metáfora que expressa a centralidade da Constituição não mais apenas como norma suprema no ordenamento, mas como lugar simbólico e político de convergência das expectativas sociais, das lutas por reconhecimento e das práticas de controle.
Este novo deus não se funda na vontade divina, tampouco na vontade geral abstrata, mas sim na imanência social, em sua pluralidade de discursos, demandas, dispositivos e regimes de verdade. A Constituição torna-se, então, não apenas texto jurídico, mas campo estratégico, em que se articulam a governamentalidade (no sentido foucaultiano), os direitos fundamentais, os dispositivos de controle e os mecanismos de legitimação pós-soberanos91.
Trata-se de uma nova arquitetura do poder constitucional na pós-modernidade, marcada por quatro traços fundamentais:
Constitucionalismo porosificado e dinâmico. A Constituição já não pode ser concebida como um corpo rígido e impermeável, mas como estrutura porosa, que incorpora fluxos sociais, transformações culturais e interpretações hermenêuticas mutáveis. O princípio da mutação constitucional – poder de 4º grau – ganha centralidade, reconhecendo que a realidade constitucional é constantemente reelaborada pelo uso, pelos tribunais e pelas práticas institucionais.
Expansão dos sujeitos de direitos. Ao longo das últimas décadas, assiste-se a uma crescente multiplicação dos sujeitos constitucionais, não mais restrito ao cidadão formal, mas incluindo minorias, coletividades vulneráveis, povos originários, pessoas e grupos com identidades sexuais e de gênero diversas, movimentos sociais, entre outros. A Constituição torna-se um campo de luta por reconhecimento e visibilidade, em que o direito é mobilizado tanto como instrumento de emancipação quanto de exclusão.
Judicialização da política e politização da justiça. Nesse novo arranjo, o poder judiciário – em especial os tribunais constitucionais – assume protagonismo inédito. Em nome da guarda da Constituição, o Judiciário decide questões centrais da vida política, econômica, social e moral da nação. O “governo dos juízes” emerge como expressão ambígua da soberania difusa, revelando tanto potencialidades garantidoras quanto riscos de recuo das garantias democráticas.
Constitucionalização do cotidiano e dos afetos. Mais do que normas reguladoras das instituições estatais, a Constituição passa a estruturar os modos de ser e sentir dos sujeitos. Direito à intimidade, identidade de gênero, liberdade sexual, reconhecimento étnico e proteção ambiental são exemplos de como o constitucional se infiltra no íntimo da experiência subjetiva, tornando-se elemento formador da cultura e da sensibilidade social. A Constituição já não apenas limita o poder, mas produz sentidos, desejos e pertencimentos.
A metáfora do deus social representa essa transcendência imanente que a Constituição adquire: não paira acima da sociedade como Lei eterna, mas constitui-se dentro dela, como lugar de sacralização dos direitos, das esperanças coletivas e das disputas de legitimidade. Nesse sentido, a Constituição é simultaneamente templo e arena; dogma e discurso; promessa e controle.
Assim, o deus social hodierno é um arquétipo sociopolítico: não é um ser, mas um processo que unifica os polos de poder, identidade e legitimidade na figura de uma Constituição simbólica que tudo abraça, tudo regula, tudo representa – mas sem necessariamente passar pelo crivo de um procedimento normativo formal.
Essa reconfiguração pode ser observada em fenômenos concretos:
Na constitucionalização da pandemia. Durante a Covid-19, decisões que restringiram liberdades fundamentais foram legitimadas com base em critérios científicos e discursos de proteção da vida, operando à margem dos ritos legislativos. O discurso biomédico assumiu a função de “nova autoridade soberana”.
Em decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal brasileiro. O reconhecimento da união homoafetiva ou o marco temporal indígena são exemplos que demonstram como a jurisprudência atua como poder constituinte de fato – reinterpretando valores constitucionais a partir do espírito do tempo92.
Na personificação do poder constitucional midiático. Lideranças políticas populistas invocam diretamente o “povo” ou a “vontade nacional”, mesmo quando agem à margem da Constituição, evidenciando uma mutação silenciosa: a normatividade se desloca do texto constitucional para o campo do simbólico e emocional.
Este é o campo onde emerge o deus social hodierno: ele não tem templo, mas redes sociais; não tem liturgia, mas algoritmos; não é eleito, mas é seguido. Ele opera no nível da percepção pública e da urgência social – é a legitimação fluida e contingente da ordem em tempos de incerteza.
Esse novo arranjo não é isento de tensões. O excesso de expectativas depositadas no texto constitucional pode gerar frustração social, quando a realidade não corresponde aos direitos formalmente reconhecidos. Da mesma forma, a expansão contínua do conteúdo constitucional pode levar à inflação normativa, ao esvaziamento do núcleo normativo duro e ao risco de despolitização das lutas sociais pela via da juridicização excessiva.
Na era contemporânea, o constitucionalismo encontra-se diante de uma profunda reconfiguração fazendo emergir uma nova arquitetura do poder. A arquitetura clássica, assentada na racionalidade normativa, na separação de poderes e na previsibilidade legal, já não responde integralmente aos anseios de legitimidade em sociedades complexas, pluralizadas e marcadas por crises sistêmicas. Neste cenário, propõe-se a categoria interpretativa do deus social hodierno, um conceito analítico que expressa a sacralização imanente dos valores constitucionais, dos afetos coletivos e dos dispositivos de gestão da vida – substituindo, funcionalmente, o antigo fundamento teológico do poder.
Diversamente do Deus transcendente que legitimava o soberano absolutista (como em Bodin) ou da razão universal abstrata (como em Kant), o deus social hodierno emana da sociedade e a ela retorna. Ele é imanente, flutuante e performativo. Legitima-se não por revelação nem por razão pura, mas pela ressonância afetiva, pela gestão biopolítica e pelo reconhecimento discursivo.
Embora o termo “deus social hodierno” seja aqui proposto como categoria original, encontra respaldo teórico em Zygmunt Bauman93 ao apontar a liquidez das estruturas de poder e o papel dos afetos e da mídia na legitimação pós-moderna, onde o poder é consumido socialmente e reproduzido na circulação de imagens, narrativas e medos. A esse diagnóstico se soma a contribuição de Jürgen Habermas94, ao identificar na razão comunicativa e nos processos discursivos a nova fonte de legitimidade jurídica e política – uma forma de transcendência secularizada, institucionalizada no direito e na Constituição como espelho normativo da sociedade.
Por fim, o deus social hodierno desafia o próprio conceito de soberania: já não há um sujeito uno, indivisível e absoluto. Há uma multiplicidade de vozes, atores e instituições que, em fluxo constante, reconfiguram o que se entende por Constituição. A arquitetura do poder é hoje rizomática, difusa, tensionada entre o jurídico e o político, entre a norma e o afeto, entre a promessa e a fratura.
CONCLUSÃO
Ao longo desta análise, percorremos os caminhos da legitimidade política e jurídica que deram origem ao constitucionalismo moderno, detendo-nos nos marcos teóricos e institucionais que fundamentaram sua construção e evolução. Da razão de Estado em Maquiavel à soberania absoluta de Bodin; do contratualismo secularizado de Hobbes, Locke e Rousseau à racionalização do poder proposta por Montesquieu, Kant e Hegel; das tensões entre legalismo normativo e decisão política em Kelsen e Schmitt às críticas contemporâneas de Weber, Habermas e Foucault – delineou-se uma narrativa que revela não apenas o progresso do pensamento jurídico, mas sobretudo a instabilidade dos fundamentos da legitimidade do poder ao longo da modernidade.
A Constituição, situada no núcleo desse itinerário, deixou de ser mero instrumento jurídico para converter-se em síntese tensa entre norma, política, cultura e identidade. Sua evolução reflete as inflexões da própria racionalidade ocidental: do absolutismo ao contratualismo, da normatividade formal à performatividade social, da legalidade abstrata à judicialização da política, da soberania estatal à pluralidade dos sujeitos e à dispersão rizomática do poder.
O que se evidencia no constitucionalismo contemporâneo é o esgotamento das categorias clássicas que explicavam o poder apenas a partir da razão, da vontade geral ou da lei positiva. Em seu lugar, propõe-se aqui a categoria interpretativa do deus social hodierno, figura conceitual que representa a Constituição como locus simbólico de investidura do poder, moldada pela imanência do social e permeada por disputas identitárias, afetivas, econômicas e culturais.
Nesse novo paradigma, a Constituição não é apenas instrumento de contenção, mas também de produção: de sentidos, de subjetividades, de pertencimento. É um campo em constante mutação, no qual os direitos são reivindicados, reinterpretados, apropriados e, não raro, instrumentalizados. A estabilidade normativa dá lugar à complexidade hermenêutica; à soberania unitária, à governamentalidade difusa; e o Estado moderno, aos poucos, se vê compelido a reconfigurar-se diante das novas formas de legitimação e dos desafios de um mundo em permanente transformação.
Seja inscrito nas tábuas mosaicas ou nas constituições contemporâneas, o homem parece nunca cessar de buscar um intermediador – uma instância que o proteja de si mesmo, que converta a vontade dispersa em norma comum, e que ressoe, ainda que secularmente, o eco do Deus que falava no Sinai.
Compreender a Constituição na contemporaneidade exige hoje não apenas ferramentas jurídicas, mas também filosóficas, sociológicas, políticas e culturais. A análise do poder contemporâneo, para ser crítica e fecunda, deve considerar as camadas visíveis e invisíveis que sustentam o edifício constitucional: desde seus fundamentos metafísicos até seus dispositivos técnicos, passando por seus mitos fundacionais, suas promessas normativas e suas fraturas históricas.
Se o constitucionalismo moderno visava a limitação do poder em nome da liberdade, o constitucionalismo contemporâneo enfrenta o desafio de reinventar a legitimidade em tempos de incerteza, pluralismo e fluidez institucional. Resta à teoria crítica, ao direito e à filosofia a tarefa de acompanhar esse deslocamento com vigilância analítica e compromisso ético, sem abdicar de sua vocação pública e emancipatória.
O deus social hodierno não é um novo soberano, mas um novo signo. Ele não se impõe pela espada nem pela razão, mas se propaga por meio dos fluxos afetivos, das plataformas digitais e da normatividade difusa. Sua legitimidade não é dada, mas performada continuamente nas disputas por visibilidade, cuidado e reconhecimento. Nesse contexto, a Constituição já não é apenas um texto jurídico, mas um espelho simbólico das fraturas e promessas de nossa era.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Adriana R. de; CABRAL, Gustavo C. Machado. A legitimação da autoridade secular e a teorização do “Direito de Resistência” na filosofia da Reforma Protestante. Rev. Direito e Práx. 11 (01) Jan-Mar 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdp/a/5qFjXxdgSrRWJw9W7gVsd3P/. Acesso em 06/06/2025.
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Tradução Walter José Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
AQUINO, Tomás de. Do Governo dos Príncipes ao Rei de Cipro. Tradução de Arlindo Veiga dos Santos. São Paulo, Edipro, 2013.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
BETTINE, Marco. A Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas: bases conceituais. São Paulo: USP, 2021. Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/587. Acesso em 14/06/2025.
BOBBIO, Norberto. O Terceiro Ausente: Ensaios e Discursos sobre a Paz e a Guerra. Barueri (SP): Manole, 2009.
BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro primeiro. Tradução José Carlos Orsi More. São Paulo: Ícone, 2011.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
BRANDÃO, Gildo Marçal. O Estado como realização histórica da liberdade. In: WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os Clássicos da Política. Vol. 2. 11. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 101-148.
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.
CALVINO, João. As Institutas ou Tratado da Religião Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2006.
CÍCERO, Marco Túlio. Dos Deveres. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2009.
CÍCERO, Marco Túlio. Da República. Trad. Amador Cisneiros. 3ª ed. São Paulo: Edipro, 2021.
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38. Ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. 3. ed. Rio de Janeiro: NAU, 2003.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 37. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2009a.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 19ª edição. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Ed. Loyola, 2009b.
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
GOYARD-FABRE, Simone. Filosofia crítica e razão jurídica. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri (Org.). Código de Hamurabi; O manual dos inquisidores; A Lei das XII Tábuas; A Lei do Talião. 1. ed. São Paulo: Rideel, 2006.
HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
HELD, David. Models of Democracy. 3. Ed. Stanford: Stanford University Press, 2006.
HOBBES, Thomas . Leviatã. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2009.
KENNY, Anthony. Uma nova história da filosofia ocidental: Filosofia Antiga. V. 1, trad. Carlos Alberto Bárbaro. São Paulo: Edições Loyola, 2008a.
KENNY, Anthony. Uma nova história da filosofia ocidental: Filosofia Medieval. V. 2, trad. Edson Bini. São Paulo: Edições Loyola, 2008b.
JUSVIACK, Patrícia; WESTPHAL, Euler. O Estado moderno e a reforma Protestante a partir da interpretação de Quentin Skinner. Vox Scripturae. Revista Teológica Internacional. São Bento do Sul/SC, vol. XXIV, n. 1, jan-jun 2016, p. 95-115. Disponível em: https://www.academia.edu/80621324/. Acesso em 06/06/2025.
KANT, I. Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf. Stuttgart: Reclam, 1996.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986.
KRÜPER, Julian; PAVANDEH, Mehrdad; SAUER, Heiko (Hg.). Konrad Hesses normative Kraft der Verfassung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019.
LEAL, Saul Tourinho. Controle de constitucionalidade moderno. 3. ed. Niterói: Impetus, 2014.
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. Tradução Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2006.
LUTERO, Martinho. Da liberdade do cristão. Edição bilingue. 2. ed. Tradução Erlon José Paschoal. São Paulo: UNESP, 2011.
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Tradução de Antonio Caruccio-Caporale. Porto Alegre: L& PM, 2006.
MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2009. Veja versão original em francês: MONTESQUIEU. De l’esprit des lois. Bibliothèque nacionale de France. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s.texteImage. Acesso em 11/06/2025.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PLATÃO. As Leis. Tradução de Edson Bini. Bauru (SP): Edipro, 1999.
POSPISIL, Leopold. Anthropology of Law: A comparative Theorie. New York: Harper & Row, 1974.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução Paulo Neves. Porto Alegre: L & PM, 2009.
SCHMITT, Carl. Teologia política. 2. ed. Tradução de Rafael Santos Rodrigues. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. Volume II, A era da Reforma. Lisboa: Edições 70, 2023.
VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
WEBER, Max. Wissenschaft als Beruf (1919). In: Max Weber Schriften 1894–1922. Ausgewählt und herausgegeben von Dirk Kaesler. Kröner Stuttgart 2002, S. 474–513, hier S. 488. Disponível em: https://www.molnut.uni-kiel.de/pdfs/neues/2017/Max_Weber.pdf. Acesso em 14/06/2025.
WEBER, Max. Schriften zur Wissenschaftslehre. Stuttgart: Reclam, 1991.
WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 3ª ed. Vol. 1. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília (DF): Editora UnB, 1994.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 4ª ed. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2009.
[...]
1 Leidimar Pereira Murr é médica e advogada, Doutora em Bioética pela Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemanha, onde integrou o Colégio de Doutorandos do Internationales Zentrum für Ethik in den Wisseschaften (IZEW). Professora e escritora, com atuação interdisciplinar nas áreas da saúde, ética e direito, foi responsável por uma das primeiras experiências sistemáticas de ensino da Bioética na Universidade Federal do Rio grande do Norte. Desenvolve reflexões críticas sobre os desafios morais e institucionais do mundo contemporâneo, com especial ênfase na Bioética e na filosófica jurídica como campos de pensamento e ação.
2 Cf. GUIMARÃES, 2006.
3 BOBBIO, 2009.
4 Os ordálios, ou juízos divinos, eram práticas ancestrais que consistiam em submeter os acusados `a provas do fogo, da água quente, do duelo, dentre outras, almejando a resolução de litígios através da determinação de culpa ou inocência, a depender do resultado da prova. Baseava-se na crença da intervenção direta da divindade para revelar a verdade, protegendo o inocente e punindo o acusado. Os ordálios eram práticas culturalmente legitimadas, valendo-se mais da eficácia simbólica e da coesão social do que por critérios de verdade empírica . Cf. POSPISIL, Leopold. In: BULOS, 2009, p. 9.
5 PLATÃO, 1999. Cf. KENNY, 2008a.
6 HOMO, Léon apud BULOS, Constituição Federal Anotada, p.11.
7 HELD, 2006.
8 CÍCERO, 2021. Cf. KENNY, 2008a; CÍCERO, 2009.
9 MCLLWAIN, Charles Howard apud BULOS, Constituição Federal Anotada, op. cit., p. 11.
10 SILVA, 2009.
11 AQUINO, 2013. Cf. KENNY, 2008b.
12 SKINNER, 2023.
13 JUSVIACK; WESTPHAL, 2016, p. 95-115.
14 ALBUQUERQUE, Adriana R. de; CABRAL, Gustavo C. Machado. A legitimação da autoridade secular e a teorização do “Direito de Resistência” na filosofia da Reforma Protestante. Rev. Direito e Práx. 11 (01) Jan-Mar 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdp/a/5qFjXxdgSrRWJw9W7gVsd3P/. Acesso em 06/06/2025.
15 Ao lado dele, João Calvino sistematiza uma visão mais rigorosa e disciplinada da vida comunitária . Cf. SKINNER, op. cit., p. 211-225.
16 LUTERO, 2011.
17 SKINNER, 2023, p. 63-75.
18 Ibidem, p. 90-93.
19 VILLEY, 2008, p. 121-125.
20 CALVINO, 2022.
21 SKINNER, op. cit., p. 146-148.
22 Ibidem, p. 159-165.
23 ALTHUSSER, 1985, p. 94-96.
24 FOUCAULT, 2008, p. 111-120.
25 SKINNER, op. cit., p. 171-175.
26 Ibidem, p. 185-188.
27 FOUCAULT, 2008, p. 119-121.
28 SKINNER, op. cit. p. 192-198.
29 VILLEY, op. cit., p. 127-130.
30 MAQUIAVEL, 2006.
31 GOYARD-FABRE, 2002, p. 14-21.
32 Ibidem.
33 BODIN, 2011.
34 COMPARATO, 2008, p. 188-193.
35 VILLEY, 2008. Cf. GOYARD-FABRE, 2002, p. 21-26.
36 HOBBES, 2009.
37 GOYARD-FABRE, 2002, p. 27-33.
38 ALTHUSSER, 1985.
39 LOCKE, 2006.
40 COMPARATO, op. cit., p. 205-227.
41 ROUSSEAU, 2009.
42 GOYARD-FABRE, Os fundamentos do direito político moderno, op. cit., p. 219-233.
43 FOUCAULT, 2008.
44 BULOS, Constituição Federal Anotada, op. cit., p. 14.
45 Ibidem.
46 Cf. SILVA, 2010; KRÜPER; PAVANDEH; SAUER (Hg.), 2019.
47 BULOS, Constituição Federal Anotada, op. cit., p. 15.
48 Cf. SILVA, 2010.
49 Cf. BONAVIDES, 2019.
50 Cf. FERREIRA FILHO, 2021.
51 BULOS, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 114.
52 Cf. MORAES, 2010; BULOS, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 126-127.
53 SILVA, op. cit., p. 40-42.
54 Cf. GOYARD-FABRE, 2006.
55 Cf. GOYARD-FABRE, 2002.
56 MONTESQUIEU, L’esprit de s lois. apud GOYARD-FABRE, Os princípios filosóficos do direito político moderno, op. cit, p. 105.
57 COMPARATO, op. cit., p. 287-304.
58 Ibidem, p. 305-328.
59 MONTESQUIEU, 2009.
60 Ibidem.
61 GOYARDE-FABRE, Os princípios filosóficos do direito político moderno, op. cit., p. 237-246.
62 KANT, 1996.
63 Cf. COMPARATO, op. cit., p. 287-304; GOYARD-FABRE, Filosofia crítica e razão jurídica, op. cit., p. 71-79.
64 Ibidem.
65 Ibidem, p. 305-328.
66 BRANDÃO apud WEFFORT (Org), 2008, p. 101-148.
67 COMPARATO, op. cit., p. 305-328.
68 Cf. GOYARD-FABRE, 2002.
69 Cf. GORARD-FABRE, 2006.
70 Ibidem.
71 Diversos constitucionalistas dedicaram-se aos fundamentos históricos e teóricos do constitucionalismo moderno, dentre os quais se destacam Uadi Lâmmego Bulos, com obras sistemáticas sobre a Constituição brasileira e a teoria constitucional (BULOS, 2009; 2015). Ressalte-se ainda a contribuição de Saul Tourinho Leal, cuja abordagem sobre o controle de constitucionalidade moderno (LEAL, 2014) alia densidade teórica à interpretação jurisprudencial crítica.
72 Cf. KELSEN, 2003; KELSEN, 1986; BULOS, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 103.
73 GOYARD-FABRE, Os princípios filosóficos do direito político moderno, op. cit., p. 251-265.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 BULOS, Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 103.
77 Ibidem.
78 SCHMITT, 2006.
79 Carl Schmitt apud GOYARD-FABRE,2002, p. 267.
80 Cf. GOYARDE-FABRE, 2002, p. 265-270.
81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 WEBER, 1994.
84 WEBER, Max. Wissenschaft als Beruf (1919). In: Max Weber Schriften 1894–1922. Ausgewählt und herausgegeben von Dirk Kaesler. Kröner Stuttgart 2002, S. 474–513, hier S. 488. Disponível em: https://www.molnut.uni-kiel.de/pdfs/neues/2017/Max_Weber.pdf. Acesso em 14/06/2025. Cf. GOYARD-FABRE, Os princípios filosóficos do direito político moderno, op. cit., p. 281-284.
85 WEBER, 2009; WEBER, 1991.
86 HABERMAS, 1992. Cf. BETTINE, 2021.
87 Cf. GOYARD-FABRE, Os princípios do direito político moderno, op. cit., p.480-485.
88 Cf. FOUCAULT, 2009a; FOUCAULT, 2009b.
89 Cf. ADVERSE, Helton. Foucault e a história da sexualidade: da multiplicidade das forças à biopolítica. Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 28, n. 45, p. 927-948, set./dez. 2016. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/39204/2/heltonFoucaultHistoria.pdf. Acesso em 14/06/2025.
90 FOUCAULT, 2003.
91 Mecanismos de legitimação pós -soberanos: expressão utilizada para designar formas de legitimação que não se apoiam mais diretamente na soberania popular ou estatal tradicional, mas em procedimentos, decisões judiciais, estruturas normativas complexas ou processos comunicativos institucionalizados, próprios do constitucionalismo contemporâneo. Cf. Habermas, 1992.
92 Não se faz aqui qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo normativo das decisões referentes à união homoafetiva ou ao marco temporal das terras indígenas. O objetivo é destacar o fenômeno institucional pelo qual temas de alta complexidade e impacto social vêm sendo atraídos à competência do Supremo Tribunal Federal, convertendo-se em eixos de normatização constitucional contemporânea.
93 Cf. BAUMAN, 2001; BAUMAN, 2009. BAUMAN, 2010.
94 Cf. HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), ver também a tradução brasileira: Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
- Citation du texte
- Leidimar Murr (Auteur), 2025, Constitucionalismo contemporâneo, poder e legitimidade, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1594237